A Contabilidade Pública que o Brasil Perdeu — e o Estado que Precisa Nascer
Livro digital
Autor: Jozenei Silva Pereira
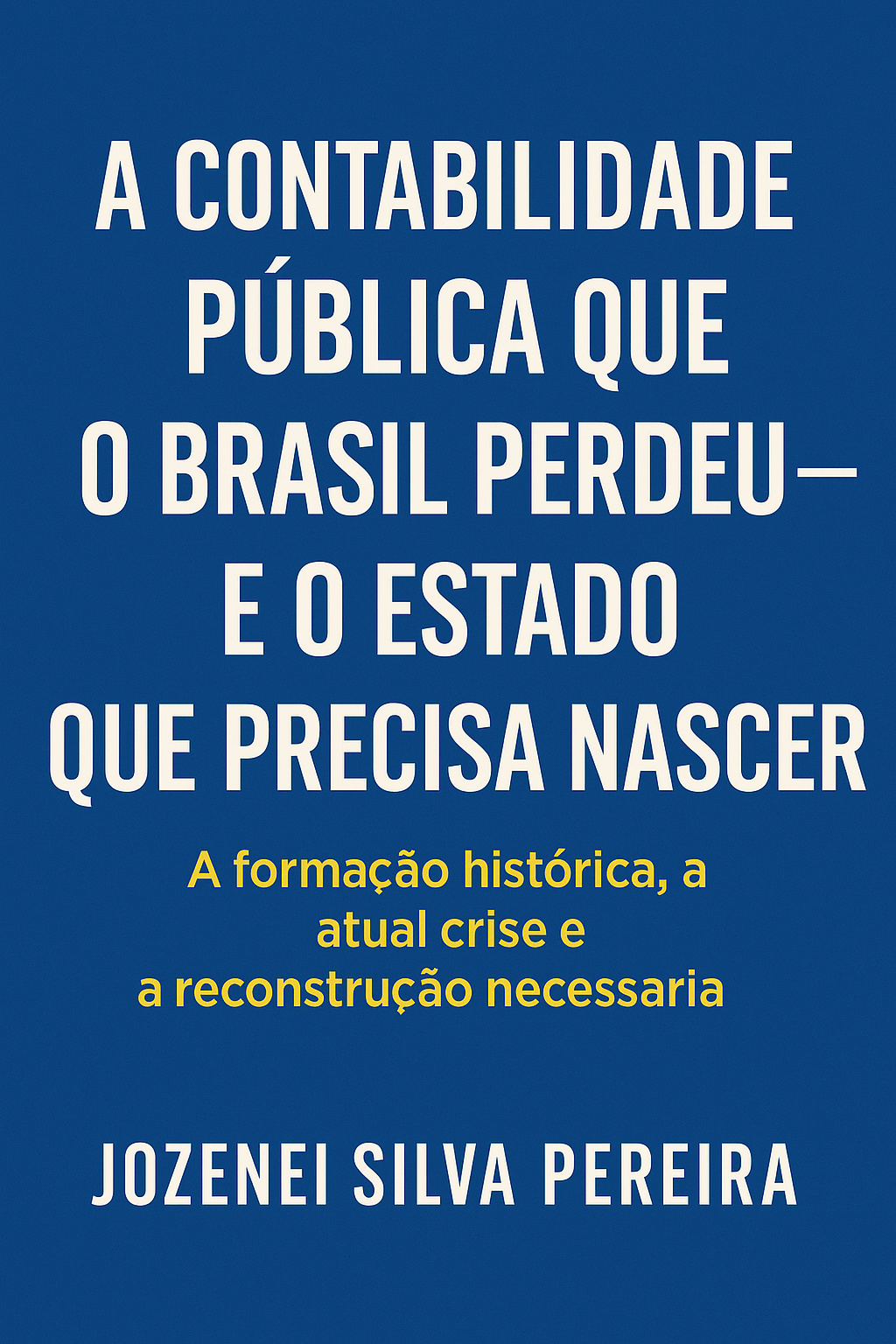
Sumário
- CAPÍTULO 1 — AS RAÍZES REMOTAS DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE
- CAPÍTULO 2 — AS MATRIZES PORTUGUESAS E A FORMAÇÃO COLONIAL
- CAPÍTULO 3 — O MOMENTO EM QUE A CONTABILIDADE PÚBLICA SE PERDEU
- CAPÍTULO 4 — O AMBIENTE CULTURAL QUE CONDENOU O PATRIMÔNIO AO ESQUECIMENTO
- CAPÍTULO 5 — OS PRIMEIROS SINAIS DO COLAPSO PATRIMONIAL
- CAPÍTULO 6 — A CONSOLIDAÇÃO DO MODELO ORÇAMENTÁRIO E A MORTE DO PATRIMÔNIO
- CAPÍTULO 7 — O RESULTADO: UM ESTADO QUE NÃO SABE O QUE TEM
- CAPÍTULO 8 — AS RAÍZES DO ATRASO: CULTURA, NÃO TÉCNICA
- CAPÍTULO 4 — A LEI 4.320/1964 E O MOMENTO QUE MUDOU TUDO
- CAPÍTULO 5 — O GESTOR PATRIMONIALISTA: A MENTALIDADE QUE SE OPÔS À CONTABILIDADE
- CAPÍTULO 6 — O CHOQUE ENTRE MODELOS: TÉCNICA X CULTURA
- CAPÍTULO 7 — A LÓGICA DO PODER LOCAL: O PATRIMONIALISMO COMO SISTEMA
- CAPÍTULO 8 — O MODELO BUROCRÁTICO-LEGALISTA: A CAMISA DE FORÇA DA CONTABILIDADE
- CAPÍTULO 12 — A CHEGADA DA CRISE: QUANDO A REALIDADE EXPLODE O MODELO
- CAPÍTULO 13 — O DIA EM QUE DESCOBRIMOS QUE NÃO SABÍAMOS NADA
- CAPÍTULO 14 — O SURGIMENTO DE UMA NOVA AGENDA: TRANSPARÊNCIA, RESPONSABILIDADE E PATRIMÔNIO
- CAPÍTULO 15 — A DÉCADA DO IMPROVISO: QUANDO A ADMINISTRAÇÃO SE TORNOU REATIVA
- CAPÍTULO 16 — A MÁQUINA PÚBLICA SEM MEMÓRIA: O LEGADO DA FRAGMENTAÇÃO
- CAPÍTULO 17 — QUANDO A REALIDADE EXIGE O QUE O MODELO NÃO TEM: CUSTOS, RESULTADOS E EFICIÊNCIA
- CAPÍTULO 18 — O GESTOR EM COLAPSO: O FIM DA ERA DO IMPROVISO
- CAPÍTULO 19 — QUANDO AS SOMBRAS APARECEM: O PATRIMÔNIO ESCONDIDO QUE VEM À LUZ
- CAPÍTULO 20 — A TECNOLOGIA DESNUDA O ESTADO: SISTEMAS, TRANSPARÊNCIA E EXPOSIÇÃO
- CAPÍTULO 21 — O SURGIMENTO DE UMA NOVA GERAÇÃO DE GESTORES E CONTADORES
- CAPÍTULO 22 — A PRESSÃO POR CONVERGÊNCIA: QUANDO O MUNDO SE APROXIMA DO BRASIL
- CAPÍTULO 23 — O ÚLTIMO SUSPIRO DO MODELO ANTIGO
- CAPÍTULO 24 — O NASCIMENTO DE UMA NOVA ERA: QUANDO O PATRIMÔNIO VOLTA À SUPERFÍCIE
- CAPÍTULO 25 — O TESOURO NACIONAL ACORDA: O PAPEL DO GOVERNO FEDERAL NA VIRADA
- CAPÍTULO 26 — O ANO DE 2008: O DIVISOR DE ÁGUAS SILENCIOSO
- CAPÍTULO 27 — O IMPACTO NAS PREFEITURAS: QUANDO O NOVO ENTRA EM CHOQUE COM O VELHO
- CAPÍTULO 28 — O PAPEL TRANSFORMADOR DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
- CAPÍTULO 29 — A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA: A REINVENÇÃO DE UM SISTEMA
- CAPÍTULO 30 — O MCASP: A “CONSTITUIÇÃO CONTÁBIL” DO ESTADO BRASILEIRO
- CAPÍTULO 31 — A REVOLUÇÃO DA DEPRECIAÇÃO: O MOMENTO QUE NINGUÉM ESPERAVA
- CAPÍTULO 32 — A RETOMADA DO INVENTÁRIO: O PRIMEIRO PASSO DA CIVILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
- CAPÍTULO 33 — A MUDANÇA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS: DO RITUAL AO RESULTADO
- CAPÍTULO 39 — O ESTADO EM TRANSFORMAÇÃO: AS PRÁTICAS QUE MARCAM O SÉCULO XXI
- CAPÍTULO 40 — O PARADOXO DO SIAFIC: QUANDO O SISTEMA AVANÇA, MAS A CULTURA FICA PARA TRÁS
- CAPÍTULO 41 — A NOVA GESTÃO PÚBLICA EM DISPUTA: ENTRE A GOVERNANÇA E O PATRIMONIALISMO
- CAPÍTULO 42 — O CONFLITO ENTRE TERCEIRIZAÇÃO E SOBERANIA TÉCNICA: QUANDO O ESTADO ABDICA DE SI MESMO
- CAPÍTULO 43 — O CONTADOR INVISÍVEL:
- CAPÍTULO 44 — O CONTROLE INTERNO FRAGMENTADO:
- CAPÍTULO 46 — GOVERNANÇA E EVIDÊNCIAS:
- CAPÍTULO 47 — O SERVIDOR PÚBLICO COMO GUARDIÃO DA REPÚBLICA:
- CAPÍTULO 48 — O DESAFIO DA CULTURA ADMINISTRATIVA:
- CAPÍTULO 50 — A GOVERNANÇA DO FUTURO:
- CAPÍTULO 51 — O ESTADO QUE DEIXAREMOS PARA OS PRÓXIMOS 30 ANOS:
- CAPÍTULO 52 — EPÍLOGO:
PARTE I — ORIGENS E IDENTIDADE DA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA
CAPÍTULO 1 — AS RAÍZES REMOTAS DA ADMINISTRAÇÃO E DO CONTROLE
A história da contabilidade pública é, antes de tudo, a história da própria civilização. Ela não nasce na frieza de gabinetes técnicos, mas no calor de sociedades que buscavam sobreviver, organizar-se e evitar o caos. Para compreendermos como a contabilidade pública brasileira se formou — e, sobretudo, como ela se perdeu — precisamos viajar milhares de anos no tempo, para um período em que o simples ato de contar sementes, registrar colheitas ou armazenar grãos podia significar a diferença entre vida e morte.
Imagine um vale na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, há mais de cinco mil anos. Ali, pequenas cidades-estado floresciam em meio ao deserto, sustentadas pela engenhosidade de canais de irrigação. A administração do templo era o coração dessas comunidades. Os sacerdotes organizavam o trabalho dos camponeses, distribuíam alimentos, supervisionavam colheitas e cuidavam dos celeiros que garantiam a segurança alimentar. Mas para que isso funcionasse, era preciso registrar. Surgem então tablillas de argila, contendo marcas em forma de cunha — os primeiros registros contábeis públicos da humanidade.
Esses registros eram carregados de significado. Eram, ao mesmo tempo:
mecanismos de controle econômico;
instrumentos de autoridade política;
ferramentas de estabilidade social.
Aquele que controlava os registros controlava a cidade. Já nesse momento da história, a contabilidade pública nascia muito mais política do que técnica.
No Egito antigo, essa relação entre poder e registro era ainda mais evidente. Era impossível governar o Egito sem contabilizar. As cheias do Nilo determinavam o destino da agricultura, e com ela a sobrevivência de milhões. Cabia aos escribas percorrer campos, medir terras, registrar excedentes, distribuir alimentos e monitorar o trabalho escravo. Um erro administrativo poderia levar à fome generalizada, a revoltas ou ao colapso do governo do faraó. Por isso, o escriba era figura sagrada: aquele que escrevia sustentava a ordem do mundo. A contabilidade pública era, portanto, uma das bases do Estado faraônico.
Tudo isso é importante porque nos revela um traço que atravessa a história e chega ao Brasil contemporâneo: o registro público nunca foi neutro. Ele nasce como instrumento de poder, e isso moldará profundamente os caminhos da contabilidade pública brasileira, que por séculos será usada mais para “controlar pessoas” do que para “conhecer o patrimônio público”.
Quando avançamos para a Grécia e Roma, encontramos modelos mais sofisticados. A administração romana, por exemplo, desenvolveu um sistema altamente organizado de arrecadação de tributos, controle de obras públicas, administração de provisões militares e gestão de propriedades estatais. Os aedis, questores e censores tinham funções similares às de gestores públicos modernos. Seus livros — hoje perdidos — registravam desde despesas militares até o valor de estradas, aquedutos e edifícios.
Mas, mesmo ali, a contabilidade não era plenamente patrimonial. Havia registros, mas não havia demonstrações econômicas completas. Predominava o controle da movimentação financeira, não a mensuração da riqueza pública. Isso revela que a confusão entre finanças e patrimônio não é um problema exclusivamente brasileiro; é um fenômeno global — embora aqui ele tenha ganhado contornos peculiares.
Com a queda de Roma e o surgimento da Idade Média, a contabilidade pública se fragmenta. Mas não desaparece. Feudos, abadias, reinos e cidades-estado mantêm registros rudimentares. A Igreja Católica, por exemplo, se torna a principal detentora de práticas administrativas e contábeis, administrando vastos territórios, recursos e pessoas. Os monges são, de certo modo, os contadores públicos da época.
E assim, passando por templos antigos, palácios imperiais, mosteiros medievais e cidades renascentistas, construímos uma linha histórica que desembocará em Portugal — e depois, no Brasil.
CAPÍTULO 2 — AS MATRIZES PORTUGUESAS E A FORMAÇÃO COLONIAL
Para compreender por que a contabilidade pública brasileira nasceu “orçamentária” e não “patrimonial”, precisamos olhar para a estrutura administrativa portuguesa — uma das mais centralizadas da Europa moderna. Portugal, apesar de pequeno territorialmente, desenvolveu um dos sistemas administrativos mais rígidos e controladores da época. Essa rigidez, porém, estava voltada para controle fiscal e político, não para mensuração de patrimônio.
Desde o período medieval, a Coroa portuguesa instituiu figuras como:
o tesoureiro-mor,
os contadores da fazenda,
os juízes dos almoxarifes,
e os provedores da fazenda nas capitanias ultramarinas.
Esses agentes tinham uma missão principal: garantir a arrecadação de tributos e evitar desvios. Eles eram avaliados não pela qualidade das informações patrimoniais, mas pela capacidade de fazer o dinheiro chegar à metrópole. O foco era o fluxo, não o estoque. O orçamento, não o patrimônio. A arrecadação, não a riqueza pública.
Quando Portugal coloniza o Brasil, transfere esse modelo quase intacto. A administração colonial brasileira nasce com:
baixa autonomia local,
ausência de sistema patrimonial,
forte centralização das decisões,
registros dispersos,
e foco total na arrecadação de impostos.
A riqueza produzida aqui deveria ser enviada para Lisboa. Assim, toda a estrutura administrativa colonial se organiza em torno da lógica de tirar, registrar e mandar. Não havia interesse em avaliar bens públicos, tampouco em desenvolver um sistema patrimonial robusto.
O patrimônio brasileiro — terras, matas, prédios, portos, fortes militares — praticamente não existia nos registros. O Estado brasileiro nasce, portanto, sem patrimônio mensurado, e isso terá consequências devastadoras no futuro.
Com a chegada da Corte ao Brasil em 1808, ocorre um marco administrativo. Pela primeira vez, o país passa a ter:
ministérios,
secretarias,
tribunais,
contadorias,
estruturas de arrecadação mais complexas.
Mas mesmo essa modernização não altera a lógica de fundo. A contabilidade continua servindo à movimentação financeira, jamais ao patrimônio.
O Império brasileiro, apesar de algumas tentativas de racionalização, também falha em desenvolver um verdadeiro sistema patrimonial. Os balanços eram formais, incompletos e incapazes de transmitir a realidade econômica do Estado. O patrimônio público, nesse período, era mais ficção do que fato.
A República, por sua vez, piora a situação. Ao descentralizar completamente as finanças públicas, cada estado passa a registrar como bem entende. Nasce a "colcha de retalhos" contábil brasileira — um conjunto de práticas fragmentadas e improvisadas que sobreviveriam até a metade do século XX.
Esse é o pano de fundo que explica por que, no Brasil, o patrimônio público sempre foi um "ilustre desconhecido". E é nesse ambiente que surge o fenômeno que estamos estudando: o apagamento da contabilidade patrimonial.
CAPÍTULO 3 — O MOMENTO EM QUE A CONTABILIDADE PÚBLICA SE PERDEU
A perda da contabilidade patrimonial no Brasil não foi um evento repentino, mas um processo. E esse processo tem uma característica marcante: ele foi cultural, não técnico. Foi uma mudança de mentalidade, não apenas de legislação.
Entre as décadas de 1930 e 1960, o orçamento público brasileiro assume papel central na vida política nacional. Ele deixa de ser apenas um documento de planejamento para se transformar no próprio campo de batalha da governabilidade. Quem controlava o orçamento controlava a política. Ele distribuía recursos, criava alianças, sustentava bases eleitorais e estabilizava governos.
Nesse ambiente, a contabilidade assume um papel secundário: ela vira a “secretária do orçamento”. Sua função deixa de ser medir a realidade econômica do Estado para se tornar comprovar a execução financeira. É uma mudança silenciosa, mas devastadora.
Os registros patrimoniais, que já eram frágeis, praticamente desaparecem.
Depreciação não existe.
Inventários são raros.
Passivos são ignorados.
Ativos são subavaliados.
Obras públicas são registradas sem critério econômico.
Prefeituras inteiras vivem sem saber o que possuem ou quanto valem.
Paralelamente, desenvolve-se no Brasil uma cultura jurídica extremamente formalista. A administração pública passa a valorizar mais os procedimentos do que os resultados, mais os atos do que os efeitos, mais a forma do que a substância. O direito financeiro domina a contabilidade. Normas, decretos, portarias e regulamentos passam a ditar o que deve ser registrado, mesmo que isso não faça sentido econômico.
Essa cultura burocrático-formal sufoca a visão patrimonial.
A contabilidade perde sua essência.
Ela deixa de ser ciência da riqueza para se tornar manual de ritos administrativos.
Quando chegamos à década de 1960, a contabilidade pública brasileira está tão afastada da realidade que a Lei 4.320/1964 — marco do direito financeiro — não mata o patrimônio. Ela apenas formaliza o que já estava morto.
A partir dos anos 1930, o Brasil se transforma rapidamente. A migração do campo para a cidade, a industrialização nascente, a formação de uma burocracia estatal mais complexa e a própria centralização do poder durante a Era Vargas criam um ambiente em que o Estado passa a ser mais ativo do que nunca na vida cotidiana. Mas, paradoxalmente, esse crescimento do aparato estatal não vem acompanhado de um amadurecimento na mensuração e no controle patrimonial. Ao contrário: o patrimônio público, já débil, torna-se ainda mais opaco.
Imagine, por exemplo, uma prefeitura brasileira na década de 1940. Um pequeno gabinete, paredes de madeira escurecida pelo tempo, mesas de ferro, algumas prateleiras com livros contábeis grossos e encardidos. A máquina de escrever bate ritmicamente enquanto um servidor registra empenhos em cadernos padronizados. Um cidadão entra, pede informação sobre um terreno pertencente à prefeitura. O escrivão revira papéis, consulta mapas antigos e livros de registro imobiliário — muitos deles incompletos ou desatualizados. Ao final, a resposta é vaga: “Parece que é da prefeitura, mas não está muito claro”. E isso era normal. Era assim praticamente em todo o país.
Ninguém via essa precariedade como problema grave. Para muitos, o patrimônio público era quase abstrato — uma ideia, não uma realidade mensurável.
E isso tem explicação. A formação administrativa do Brasil, desde a colônia, sempre se baseou muito mais na lógica da autoridade política do que na lógica da racionalidade técnica. O administrador precisava demonstrar poder, não eficiência. Precisava cumprir ritos, não mensurar resultados. A contabilidade, então, se adaptou a essa cultura: tornou-se uma ferramenta para registrar aquilo que o Estado queria provar — que tinha gasto legalmente — e não aquilo que precisava saber — como andava sua riqueza, seu patrimônio, seu futuro.
Essa inversão de prioridades não aconteceu apenas nas prefeituras pequenas, mas em toda a estrutura estatal. Ministérios, secretarias estaduais, órgãos da administração indireta… todos operavam com a ideia de que o patrimônio público era um assunto secundário, quase supérfluo, um detalhe técnico que poderia ser deixado para depois. O orçamento, sim, era a arena central. Era nele que se negociavam verbas, emendas, obras, empregos, alianças políticas e estabilidade. Por isso, a contabilidade pública foi esmagada pela lógica orçamentária — uma lógica que se tornaria dominante, quase totalitária, no modelo brasileiro.
O resultado é uma contabilidade pobre, burocratizada, ritualística. Uma contabilidade que cumpre o formal, mas ignora o essencial. E é desse caldo histórico que nasce o ambiente perfeito para a hegemonia absoluta da execução orçamentária, oficializada pela Lei 4.320/1964 — uma lei que, embora tenha méritos organizacionais, consolidou a visão restrita da contabilidade pública como mero instrumento de comprovação da execução financeira.
Essa perda não foi apenas técnica — foi cultural, estrutural, profunda. Ela criou raízes que durariam décadas.
CAPÍTULO 4 — O AMBIENTE CULTURAL QUE CONDENOU O PATRIMÔNIO AO ESQUECIMENTO
A verdadeira história do apagamento da contabilidade patrimonial no Brasil não está apenas nas leis, mas nas mentalidades que orientavam — e ainda orientam — a administração pública. Para entender por que o patrimônio desapareceu, é preciso compreender três grandes matrizes culturais que moldaram o Estado brasileiro: o patrimonialismo, o formalismo jurídico e o personalismo político.
O primeiro desses elementos — o patrimonialismo — tem raízes profundas, muito anteriores ao Brasil. Max Weber descreve o patrimonialismo como um tipo de organização em que a fronteira entre o público e o privado é difusa. O governante administra os bens do Estado como se fossem extensões de seus próprios bens. Não é difícil perceber como esse modelo se encaixa perfeitamente na história colonial e imperial brasileira, marcada pela lógica das sesmarias, dos privilégios, da nobreza rural, dos favores políticos e das lealdades pessoais.
No Brasil, a noção de patrimônio público levou séculos para se diferenciar do patrimônio pessoal do governante. Mesmo após a República, muitos gestores locais — intendentes, prefeitos, vereadores, governadores — encaravam o Estado como extensão de seus projetos pessoais e de suas redes políticas. O patrimônio público era, muitas vezes, tratado como instrumento de recompensa, moeda de troca ou símbolo de autoridade. O registro patrimonial, portanto, não era bem-vindo. Saber o que o Estado tinha ou quanto valia não era útil para quem governava com base na lógica da apropriação simbólica do espaço público.
Em outras palavras: a ausência de contabilidade patrimonial não era falha técnica; era conveniência política.
A segunda matriz cultural é o formalismo jurídico. Desde o século XIX, o Brasil se tornou uma sociedade profundamente legalista, em que a aplicação formal da lei vale mais do que o resultado prático. Sob a influência do direito francês, a administração pública passou a valorizar mais os atos do que os efeitos, mais os papéis do que os fatos, mais o carimbo do que o dado. Isso criou uma cultura administrativa que entende a contabilidade como comprovante de legalidade, não como instrumento de conhecimento.
Assim, quando a Lei 4.320/1964 organiza o orçamento, ela se encaixa como luva em uma cultura jurídica que já via o orçamento como “a verdade oficial” do Estado. O patrimônio, por outro lado, não tinha lei forte que o sustentasse — e, portanto, foi naturalmente relegado ao esquecimento.
A terceira matriz é o personalismo político. Em boa parte da história brasileira, prefeitos, governadores e até ministros utilizaram o orçamento como extensão de sua influência pessoal. Obras eram decididas em conversas informais; bens públicos eram distribuídos conforme alianças locais; e muitas vezes nem se sabia exatamente o que o Estado possuía. Em um ambiente assim, uma contabilidade patrimonial forte seria quase uma ameaça. Ela traria visibilidade, limites, transparência — três elementos que muitos gestores preferiam evitar.
Essas três matrizes convergem para formar um ambiente em que a contabilidade patrimonial não apenas desaparece, mas chega a ser vista como inconveniente. Por isso, a hegemonia do orçamento não foi apenas contábil — foi política, cultural e institucional.
CAPÍTULO 5 — OS PRIMEIROS SINAIS DO COLAPSO PATRIMONIAL
Quando chegamos ao final dos anos 1950 e início dos anos 1960, a situação é tão grave que, para muitos órgãos públicos, simplesmente não havia como saber o que o Estado possuía. Inventários eram raros; bens sumiam; documentos oficiais eram guardados em caixas de madeira, sem classificação; escritórios inteiros funcionavam com livros contábeis incompletos ou perdidos; obras públicas eram registradas sem critério econômico; e ninguém sabia quanto valiam escolas, hospitais, estradas, pontes, praças ou prédios administrativos.
É comum encontrar relatos de prefeitos que, ao assumirem o cargo, não sabiam nem onde ficava a garagem municipal ou quantos veículos existiam. O patrimônio era um território obscuro, nebuloso, quase mítico. Em muitos lugares, a prefeitura dependia da memória de antigos funcionários para identificar bens. Era a contabilidade oral — não escrita — que sustentava a gestão.
Ao mesmo tempo, o país avançava em direção a um Estado mais complexo. Novos ministérios surgiam, empresas estatais se multiplicavam, grandes obras eram empreendidas — mas nada disso era acompanhado por um sistema patrimonial adequado. Era como construir uma cidade sobre areia movediça.
Esse é o ambiente em que a Lei 4.320/1964 surge. Ela tenta organizar o caos financeiro e orçamentário, mas não resolve o problema patrimonial — e nem poderia, porque a cultura administrativa da época estava completamente capturada pelo orçamento. A contabilidade patrimonial não era apenas ignorada: ela era desconhecida, indesejada e, para muitos, inaplicável.
A partir desse ponto, a contabilidade pública brasileira entra em um período de estagnação patrimonial que duraria cerca de 40 anos — até o início das reformas inspiradas pelas normas internacionais e pela nova contabilidade pública.
Quando observamos os registros e documentos administrativos dos anos 1950 e 1960, o cenário é revelador. Em muitos órgãos públicos, a noção de patrimônio era tão frágil que sequer havia distinção clara entre bens públicos e bens particulares usados por servidores. Era comum que máquinas de escrever, mesas, cadeiras, arquivos e até veículos fossem emprestados, trocados, substituídos ou simplesmente desaparecessem sem qualquer controle formal. O Brasil vivia uma espécie de informalidade patrimonial institucionalizada, na qual o Estado crescia, mas não media sua própria estrutura física.
Esse fenômeno é particularmente visível nos pequenos municípios, que naquela época ainda eram profundamente rurais. Imagine uma prefeitura de uma cidade interiorana dos anos 1960. O “almoxarifado” era um cômodo improvisado, muitas vezes com piso de terra batida, onde estavam empilhados, sem inventário, dezenas de equipamentos velhos, restos de obras, móveis quebrados, lâmpadas queimadas, caixas com documentos antigos, chaves de portas que já nem existiam mais. Se alguém perguntasse à prefeitura quantas carteiras escolares possuía, quantos hectares de terras havia nos fundos de ativos, quantos veículos compunham a frota municipal, a resposta seria quase sempre a mesma: “Não sabemos com precisão”.
Esse desconhecimento não era acidental. Era estrutural. A contabilidade patrimonial nunca havia se firmado como prática central da administração pública, e quando surgia a necessidade — por exemplo, em períodos de transição de governo — cada gestor montava sua própria versão da realidade. Bens eram anotados em cadernos pessoais, mapas rudimentares eram desenhados à mão, listas eram feitas com base na memória dos funcionários mais antigos. Nada disso tinha validade técnica, mas substituía, na prática, a ausência de um sistema contábil confiável.
Enquanto isso, o orçamento seguia soberano. Era ele quem definia o que “importava” administrar. Uma obra só existia quando recebia verba; um serviço só era reconhecido quando empenhado; uma despesa só ganhava “realidade” quando liquidada. A execução financeira se transformou na medida da administração pública — e não o resultado patrimonial, econômico ou social das ações governamentais.
Essa hegemonia do orçamento criou um paradoxo que marcaria a história administrativa brasileira: quanto mais o Estado crescia, menos ele conhecia seu próprio patrimônio. E quanto menos conhecia, mais dependia do orçamento como único instrumento de gestão. Esse círculo vicioso empurrou o Brasil para um modelo em que o patrimônio público se tornou invisível — e, por consequência, irrelevante.
CAPÍTULO 6 — A CONSOLIDAÇÃO DO MODELO ORÇAMENTÁRIO E A MORTE DO PATRIMÔNIO
A década de 1960 marca um ponto decisivo na trajetória da contabilidade pública brasileira. É o momento em que uma série de transformações políticas, institucionais e culturais confluem para consolidar um modelo que vigoraria por quase meio século: o modelo orçamentário-legalista, no qual o orçamento não é apenas instrumento central de planejamento, mas verdadeiro organizador da lógica estatal.
A aprovação da Lei nº 4.320/1964 consolida essa hegemonia ao estabelecer um padrão nacional para elaboração e execução orçamentária. A lei certamente trouxe avanços importantes. Ela padronizou classificações, organizou a execução financeira, delimitou estágios da despesa, estabeleceu regras para prestação de contas. No entanto, ao fazer isso, reforçou — involuntariamente — a ideia de que a administração pública se resume ao orçamento.
A contabilidade patrimonial, já enfraquecida, perde de vez seu espaço. Não porque a lei o proíba — ela não proíbe — mas porque a cultura administrativa existente já havia decidido que o patrimônio não era prioridade. Assim, o que acontece após 1964 é a institucionalização definitiva da contabilidade como instrumento de comprovação do orçamento, não como ferramenta de mensuração da realidade econômica do Estado.
É como se o Brasil tivesse escolhido, oficialmente, viver sem saber o que possui.
E isso tem consequências profundas. Durante décadas, órgãos públicos registram suas atividades de forma fragmentada, sem integração, sem consistência e sem aderência patrimonial. Um prédio escolar construído em 1970, por exemplo, poderia não constar em nenhum registro patrimonial atualizado; um hospital inaugurado nos anos 1980 talvez estivesse no papel apenas como “bem de uso especial”, sem valor atribuído; estradas municipais eram abertas, ampliadas, deterioravam-se e, em muitos casos, jamais entravam em uma “conta contábil”.
Os passivos eram ainda mais nebulosos. Dívidas eram parceladas, renegociadas, esquecidas, trocadas por “acordos políticos”, transformadas em restos a pagar que se acumulavam sem critério. A ausência de uma visão patrimonial integrada impedia que os gestores compreendessem o tamanho real das obrigações assumidas.
Enquanto isso, o orçamento continuava funcionando como se fosse o retrato fiel do Estado. Ele não era, mas pretendia ser. Ele não revelava o patrimônio, mas se comportava como se fosse a própria realidade. Isso gerou a ilusão de que o Estado “cabia dentro do orçamento”, quando, na verdade, boa parte da riqueza pública (e dos problemas) existia fora dele, completamente fora do radar.
CAPÍTULO 7 — O RESULTADO: UM ESTADO QUE NÃO SABE O QUE TEM
A combinação entre patrimonialismo, formalismo jurídico e hegemonia orçamentária gerou um Estado brasileiro que, durante décadas, viveu sem conhecer sua própria estrutura. E isso não é uma força de expressão — é literal.
Ao longo dos anos 1970, 1980 e 1990, a ausência de uma contabilidade patrimonial estruturada fez com que o país acumulasse um patrimônio público gigantesco, mas desconhecido. Prédios federais em ruínas sem registro; imóveis estaduais abandonados e sem matrícula; escolas municipais funcionando sem inventário atualizado; hospitais recebendo equipamentos que nunca eram incorporados ao balanço. A infraestrutura do país crescia sem que sua valoração fosse registrada. Isso criava uma distorção perigosa: o Estado não conseguia planejar seu futuro porque desconhecia seu presente.
Essa falta de conhecimento patrimonial gerou consequências em cadeia:
incapacidade de avaliar perdas por deterioração;
desperdício sistemático de recursos públicos;
obras duplicadas ou abandonadas sem controle;
bens públicos desaparecendo sem responsabilização;
políticas públicas sendo desenhadas sem base patrimonial;
municípios vivendo em permanente improviso;
e, principalmente, ausência total de governança sobre custos e eficiência.
Um Estado que não conhece o que tem não pode cuidar, proteger, planejar ou transformar. É como uma família que tenta organizar sua vida financeira sem saber se possui uma casa, um terreno, dívidas, móveis ou outros bens. Vive-se ao sabor da improvisação.
E o que consolida essa improvisação é o fato de que o orçamento, ano após ano, renova a ilusão de que tudo está “em ordem”, porque suas contas “fecham” e seus números “batem”. O orçamento se torna uma máscara que encobre o verdadeiro estado do patrimônio público. Essa desconexão entre orçamento e patrimônio criará a crise que motivará a reforma da contabilidade pública nas décadas de 2000 e 2010.
Mas antes disso, o que se estabelece é uma cultura administrativa que normaliza o desconhecimento. Uma cultura que vê o orçamento como verdade e o patrimônio como rumor. Uma cultura que será extremamente resistente às mudanças que virão.
CAPÍTULO 8 — AS RAÍZES DO ATRASO: CULTURA, NÃO TÉCNICA
Ao analisarmos esse processo, podemos concluir que o atraso da contabilidade patrimonial no Brasil não foi causado pela falta de técnica, mas pela falta de cultura administrativa. E isso é decisivo. Porque mudanças técnicas podem ser implementadas com decretos; mudanças culturais, não. Elas exigem tempo, educação, resistência, novos atores, novos incentivos e uma ruptura com a mentalidade patrimonialista que moldou a administração pública por séculos.
O patrimonialismo fez com que o Estado fosse tratado como extensão pessoal dos governantes. O formalismo jurídico transformou os registros contábeis em mera conformidade legal. O orçamento centrismo convenceu o país de que o orçamento é a expressão máxima da vida pública.
O resultado é uma administração que, mesmo quando cresce em tamanho e complexidade, continua analógica, improvisada, ritualística.
Assim, quando finalmente surgirem, décadas depois, os primeiros movimentos de reforma contábil — inspirados pelas normas internacionais, pelo regime de competência e pela necessidade de governança patrimonial — eles encontrarão um terreno duro, resistente, moldado por séculos de negligência patrimonial.
📘 PARTE II — O PONTO DE INFLEXÃO: QUANDO A CONTABILIDADE PÚBLICA MUDOU DE RUMO
(Estilo narrativo — BLOCO 1/3)
CAPÍTULO 4 — A LEI 4.320/1964 E O MOMENTO QUE MUDOU TUDO
É impossível compreender a história da contabilidade pública brasileira sem compreender o significado político e administrativo da Lei n.º 4.320, de 1964. A lei é frequentemente exaltada como marco de modernização — e, de fato, trouxe avanços importantes para a organização das finanças públicas. Mas, ao mesmo tempo, ela é o símbolo mais claro de uma mentalidade que já dominava o Estado brasileiro: a de que o orçamento é o centro da vida administrativa e que a contabilidade existe para servi-lo.
Para entender a dimensão desse fenômeno, imagine o clima político e institucional da época. O Brasil vivia intensas transformações: golpe militar, crescimento rápido das cidades, expansão de obras públicas, surgimento de novas empresas estatais, aumento da demanda por serviços, modernização industrial. Era um Estado em crescimento acelerado — sem instrumentos adequados de controle.
A Lei 4.320/1964 surge como tentativa de organizar esse caos. E, nesse sentido, ela é um sucesso. Padroniza estágios da despesa, cria regras de controle orçamentário, define classificações, introduz sistemática nacional de balanços e uniformiza conceitos de receita e despesa. Ao fazer isso, oferece ao país um mapa administrativo que antes não existia. Mas a lei também faz algo que poucos perceberam na época: ela entroniza o orçamento como instrumento soberano, reforçando uma visão que já estava culturalmente sedimentada.
A contabilidade patrimonial aparece na lei, mas em segundo plano, de modo tímido e quase decorativo. Não porque os autores da lei fossem contrários à visão patrimonial, mas porque o ambiente administrativo brasileiro não dava espaço para ela. O orçamento, com seus ritos, suas classificações, suas práticas, suas negociatas políticas e suas regras rígidas, ocupava todo o espaço mental da burocracia estatal. A contabilidade patrimonial não tinha onde florescer.
Se acompanharmos os documentos da época — relatórios de órgãos públicos, prestações de contas de estados e municípios, debates legislativos — veremos que quase nada se falava em patrimônio. A preocupação era executar o orçamento dentro da legalidade. Ponto. O Estado deixava de operar como gestor de patrimônio e passava a operar como gestor de fluxo financeiro. A contabilidade pública se tornava, oficialmente, uma “escrituração da despesa”.
O mais impressionante é que esse modelo não era visto como incompleto. Ao contrário: era celebrado. A lei trouxe “ordem”, “clareza”, “padronização”. Mas trouxe também uma consequência silenciosa: fechou a porta para o patrimônio por mais de quatro décadas.
O Brasil, naquele momento, não percebeu que havia consolidado um modelo que cuidava do dinheiro, mas não cuidava da riqueza. Que sabia o que gastava, mas não sabia o que possuía. Que controlava empenhos, mas ignorava depreciação, risco, deterioração e perdas.
A contabilidade patrimonial, já frágil, se tornou praticamente invisível. E a contabilidade pública brasileira entrou no período mais longo de sua história sem visão patrimonial.
CAPÍTULO 5 — O GESTOR PATRIMONIALISTA: A MENTALIDADE QUE SE OPÔS À CONTABILIDADE
Enquanto o modelo orçamentário se consolidava, outro fenômeno crescia em paralelo: a resistência de gestores públicos à estruturação de uma contabilidade patrimonial moderna. Essa resistência não era apenas técnica; era ideológica. Ela brotava de uma cultura que precede o Brasil e se enraíza no patrimonialismo — essa mistura peculiar de autoridade pessoal, informalidade administrativa e confusão entre público e privado.
Para entender isso, imagine um prefeito de uma cidade média brasileira na década de 1970. Ele governa em um ambiente profundamente marcado por relações pessoais. Sente-se mais dono do que gestor. Prefere negociar obras no campo político do que no administrativo. Recebe pedidos, distribui favores, nomeia aliados, mantém relações com empresários locais que dependem de sua boa vontade. Tudo isso faz parte da lógica do poder local.
Nesse contexto, uma contabilidade patrimonial forte seria quase um incômodo. Ela exigiria inventários rigorosos, controle de bens, medição de riscos, registro de perdas, responsabilização por deterioração. Ela tornaria visível aquilo que muitos gestores preferiam que permanecesse invisível: o estado real do patrimônio público. Ela colocaria limites administrativos em práticas políticas enraizadas.
A verdade é que a ausência de contabilidade patrimonial nunca foi apenas descuido. Foi conveniência. Conveniente para gestores que não queriam prestar contas do que faziam com os bens públicos. Conveniente para prefeitos que herdavam caos patrimonial e preferiam deixá-lo como estava. Conveniente para quem via o patrimônio público como moeda de troca, não como responsabilidade.
Esse ambiente cultural criou uma administração avessa à técnica. Uma administração que se orgulhava mais de “fazer obras” do que de mensurar seus impactos. Mais de “gastar verbas” do que de cuidar de bens públicos. Mais de “executar” do que de planejar.
O gestor patrimonialista, portanto, não se opôs apenas à contabilidade moderna — ele se opôs à própria ideia de racionalidade administrativa. E essa mentalidade permanece viva em muitas prefeituras até hoje.
CAPÍTULO 6 — O CHOQUE ENTRE MODELOS: TÉCNICA X CULTURA
Se existe um ponto central na história da contabilidade pública brasileira, ele está aqui: no choque entre dois modelos de gestão. De um lado, um modelo técnico que busca mensurar, avaliar e compreender o patrimônio público. De outro, um modelo cultural que se apoia na tradição, na informalidade, no improviso e na autoridade pessoal.
Esse choque atravessa a história brasileira. Ele aparece nos debates legislativos, nas rotinas administrativas, nas resistências a mudanças, nas crises fiscais e nas tentativas de modernização. É o conflito entre a contabilidade patrimonial — que exige dados, métodos, sistemas, disciplina — e a lógica política — que opera com urgência, emocionalidade, personalismo e interesses imediatos.
Durante décadas, esse conflito teve um vencedor claro: a cultura patrimonialista. Ela moldou gestores. Ela moldou prefeituras. Ela moldou secretarias. Ela moldou tribunais. Ela moldou o próprio Estado brasileiro.
E quando cultura domina técnica, o resultado é previsível: perde-se o patrimônio, perde-se o planejamento, perde-se a capacidade de saber. O Estado cresce, mas cresce no escuro.
Esse é o ponto de inflexão que marca o fim da Parte II e nos prepara para a Parte III, onde veremos como esse modelo orçamentário, formalista e patrimonialista começou a dar sinais de esgotamento, revelando a necessidade urgente de reconstrução da contabilidade pública brasileira.
O choque entre técnica e cultura não era apenas conceitual. Ele se manifestava diariamente na rotina das repartições públicas brasileiras. Para compreender isso, basta imaginar uma cena comum nas prefeituras, secretarias estaduais ou órgãos federais das décadas de 1970 e 1980.
Um contador público, recém-formado, entusiasmado com a possibilidade de aplicar conhecimentos de contabilidade geral, chega para trabalhar pela primeira vez na prefeitura de sua cidade natal. Ele estudou princípios de patrimônio, ativos, passivos, depreciação, inventários, avaliação de bens. Está convencido de que poderá melhorar a gestão. Mas ao entrar na repartição, encontra um ambiente marcado por fichários amarelados, pilhas de notas fiscais, livros manuscritos, tabelas antigas, arquivos incompletos e servidores mais antigos que olham com desconfiança para qualquer tentativa de mudança.
Quando ele propõe iniciar um inventário dos bens públicos, ouve frases como:
“Isso nunca funcionou aqui.”
“Pra que inventariar? Isso dá trabalho.”
“Prefeito nenhum se preocupa com isso.”
“O Tribunal nem cobra isso.”
“A gente sempre fez assim.”
“Se mexer, aparece coisa errada.”
Há, por trás dessas frases, uma verdade cultural profunda: a contabilidade patrimonial não fazia parte do imaginário administrativo brasileiro.
Ela não era vista como ferramenta de gestão. Não era vista como instrumento de transparência. Não era vista como base de planejamento. Não era vista como necessidade institucional.
O que importava era o orçamento — e o orçamento estava sacralizado. Seu cumprimento era o indicador de “boa gestão”, mesmo que o patrimônio estivesse ruindo silenciosamente por trás das planilhas de empenhos.
Esse jovem contador logo percebia que a técnica não tinha espaço naquela cultura. A prefeitura não queria saber o valor real de uma escola, mas sim se a verba enviada pela Secretaria de Educação havia sido “bem aplicada” no sentido jurídico. O gestor não queria discutir risco ou deterioração, mas sim garantir a execução das obras que fortaleceriam sua base eleitoral.
Assim, iniciava-se o processo de “aculturação”. O técnico, que havia chegado cheio de ideias patrimoniais, entendia rapidamente que precisava se adaptar aos rituais orçamentários. Com o tempo, ele também passava a repetir frases como:
“O importante é fechar o orçamento.”
“O resto a gente vê depois.”
“O patrimônio é só uma formalidade.”
A cultura se impunha sobre a técnica, moldando o profissional para caber dentro do sistema.
CAPÍTULO 7 — A LÓGICA DO PODER LOCAL: O PATRIMONIALISMO COMO SISTEMA
Nenhum fenômeno explica melhor a resistência brasileira à contabilidade patrimonial do que o patrimonialismo. Mas é preciso entendê-lo não como um conceito abstrato, e sim como um conjunto de práticas cotidianas que estruturaram a administração pública por décadas — em alguns casos, séculos.
O patrimonialismo não é apenas confusão entre o público e o privado. Ele é, acima de tudo, uma forma de organizar o poder. Seus traços fundamentais moldaram as prefeituras brasileiras de uma maneira tão profunda que ainda hoje é possível identificar seus sinais, mesmo após a modernização legislativa das últimas décadas.
Para visualizar isso, imagine novamente uma prefeitura pequena ou média nos anos 1980. O prefeito, figura central da política local, circula pela cidade acompanhado por assessores e lideranças políticas. Ele entra no gabinete, atende correligionários, despacha obras, distribui empregos, resolve conflitos de bairro. Ele exerce autoridade pessoal. Ele representa mais que a instituição — representa a si mesmo enquanto político. É o símbolo máximo do poder local.
Nesse ambiente, bens públicos — carros, máquinas, terrenos, imóveis, equipamentos — tornam-se parte dessa simbologia. São usados para ilustrar “obra”, “ação”, “presença”, “força”. Um trator novo, por exemplo, não é visto como patrimônio a ser preservado, mas como uma conquista do prefeito, uma “marca” de sua gestão. A utilização dessas máquinas, muitas vezes, seguia critérios informais, pessoais, políticos. Um secretário utilizava o veículo para visitar comunidades; outro emprestava para aliados; outro deixava parado esperando decisão do prefeito. Tudo isso acontecia sem qualquer registro contábil.
O patrimônio era tratado como extensão do poder do gestor.
E assim era natural que ninguém quisesse inventariar, registrar, valorar ou mensurar esses bens. O patrimônio documentado criaria limites. O patrimônio invisível criava liberdade. E liberdade política era vista como prioridade.
Esse modo de pensar e agir se espalha de tal maneira pela administração pública que vira cultura, hábito, tradição. Em muitos municípios, falar de contabilidade patrimonial soava tão estranho quanto falar de engenharia genética nos anos 1930. Simplesmente não fazia parte do vocabulário institucional.
Esse desinteresse não se devia à ignorância técnica dos gestores. Muitos deles eram inteligentes, articulados, politicamente experientes. O problema não era falta de capacidade, mas falta de incentivo. Ninguém ganhava votos medindo depreciação. Ninguém ganhava eleição controlando o ativo imobilizado.
O que importava era inaugurar obras, mostrar movimento, demonstrar ação. E, nesse sentido, o patrimônio só interessava enquanto símbolo político — não enquanto dado contábil.
CAPÍTULO 8 — O MODELO BUROCRÁTICO-LEGALISTA: A CAMISA DE FORÇA DA CONTABILIDADE
Enquanto o patrimonialismo moldava comportamentos e relações políticas, o formalismo jurídico moldava o ambiente técnico. O Brasil desenvolveu, desde o final do século XIX, uma cultura administrativa profundamente influenciada pelo direito. Isso fez com que a contabilidade pública fosse capturada por uma lógica burocrática que priorizava a forma sobre o conteúdo.
Esse modelo se consolidou especialmente após a Lei 4.320/1964, que reforçou normas detalhadas para a execução orçamentária. A lei foi essencial para organizar o orçamento, mas seu impacto indireto foi aprisionar a contabilidade dentro de um conjunto rígido de rituais jurídicos. A contabilidade passou a existir para “atender ao controle”, não para revelar a verdade econômica.
Essa camisa de força burocrática funcionava de maneira quase automática: o contador público precisava cumprir os estágios da despesa, seguir a classificação orçamentária, obedecer às instruções dos tribunais de contas e produzir demonstrativos legais. Tudo isso era indispensável para evitar rejeição de contas, penalidades ou conflitos com o controle externo. Mas onde ficava o patrimônio? Simples: ficava fora do radar.
A estrutura burocrática era tão forte que o controle externo também reforçava esse modelo. Os tribunais de contas, em sua maioria, cobravam rigor jurídico da execução orçamentária. Erros formais em empenhos podiam derrubar uma prestação de contas; a ausência de depreciação, não. Um descuido na classificação da despesa podia gerar multas; a falta de inventário, não. O resultado era previsível: contadores temiam mais um “erro de código orçamentário” do que o desaparecimento de bens públicos.
Essa inversão de prioridades consolidou o que podemos chamar de modelo contábil ritualístico: um tipo de contabilidade que cumpre etapas, preenche quadros, emite relatórios, mas não explica a situação real do Estado. É uma contabilidade que existe para atender ao processo, e não para informar a verdade.
Esse modelo burocrático não apenas enfraqueceu a contabilidade patrimonial; ele legitimou seu esquecimento. Ele fez com que a negligência patrimonial parecesse “normal”, “tolerável”, “não urgente”. Assim, a contabilidade pública brasileira mergulhou em décadas de escuridão patrimonial, enquanto o orçamento reinava absoluto.
📘 PARTE III — A CRISE E A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO
(Estilo narrativo — BLOCO 1/3)
CAPÍTULO 12 — A CHEGADA DA CRISE: QUANDO A REALIDADE EXPLODE O MODELO
O modelo orçamentário-ritualístico brasileiro, que havia dominado o país por décadas, começou a ruir lentamente a partir dos anos 1990, até entrar em colapso estrutural nos anos 2000. Essa ruptura não foi causada por uma mudança de legislação, mas por uma mudança da realidade social e econômica, que passou a exigir algo que o modelo antigo simplesmente não conseguia entregar: informação confiável.
A urbanização acelerada, a expansão da máquina pública, o aumento do acesso da população a serviços essenciais e a crescente complexidade das políticas públicas criaram uma pressão inédita sobre o Estado. Não era mais possível governar com base em improvisos, memórias de servidores antigos e formalismo jurídico. A sociedade brasileira mudava rapidamente — e o Estado permanecia congelado em práticas dos anos 1960.
Imagine, por exemplo, um município brasileiro no ano de 2001. Ele enfrenta desafios que não existiam na década de 1970: redes de saúde mais complexas, demandas por transporte urbano, necessidade de manutenção de escolas ampliadas, gestão ambiental, política de resíduos sólidos, controle epidemiológico, vigilância sanitária, incentivo ao desenvolvimento econômico, projetos esportivos e culturais. Cada uma dessas áreas exige planejamento, indicadores, conhecimento patrimonial, gestão de riscos, análise de custos.
Mas a prefeitura ainda opera como se estivesse em 1975. Sem inventários, sem avaliação patrimonial, sem sistemas informatizados integrados, sem análise de custo por serviço prestado, sem controle do ciclo de vida dos ativos. O orçamento continua sendo tratado como medidor de tudo, apesar de não medir nada além da execução financeira.
É nesse momento que o modelo começa a entrar em colapso.
Há um distanciamento crescente entre a complexidade da realidade e a simplicidade da contabilidade pública oficial. Programas sociais se multiplicam, obras se expandem, estruturas físicas envelhecem, contratos se tornam mais complexos. Ao mesmo tempo:
passivos ocultos explodem;
restos a pagar se acumulam;
obras paralisadas se tornam símbolo de ineficiência;
bens públicos se deterioram sem controle;
carros oficiais se transformam em sucata antes do tempo;
escolas operam com equipamentos de décadas;
hospitais acumulam máquinas quebradas sem registro;
prefeituras não sabem quanto custa prestar um serviço público;
estados não conseguem planejar investimentos de longo prazo.
O orçamento, antes tratado como “centro da verdade”, passa a ser insuficiente — e perigosamente enganoso. A contabilidade pública brasileira, pela primeira vez em décadas, é pressionada pela realidade. O Estado está ficando grande demais para operar no escuro.
E o patrimônio, ignorado por tantos anos, começa a cobrar a conta.
CAPÍTULO 13 — O DIA EM QUE DESCOBRIMOS QUE NÃO SABÍAMOS NADA
Ao longo dos anos 2000, começam a surgir estudos, auditorias, recomendações e relatórios que, pela primeira vez, expõem abertamente o tamanho da ignorância patrimonial do Estado brasileiro. Essa exposição não é gradual — é abrupta. É como se o país tivesse acordado de um longo sono e descoberto que nada do que imaginava saber sobre si mesmo era verdade.
Imagine um levantamento patrimonial feito em 2005 por uma secretaria estadual. Após meses de trabalho, a equipe descobre que:
dezenas de imóveis não possuem matrícula;
prédios públicos não têm valor contábil registrado;
hospitais funcionam com equipamentos não incorporados;
obras inauguradas nunca foram finalizadas;
terrenos “da secretaria” pertencem a particulares;
bens desaparecem sem registro de baixa;
veículos sucateados permanecem tecnicamente “novos” no sistema;
materiais permanentes foram totalmente confundidos com materiais de consumo.
Esse levantamento, embora fictício em detalhes, é absolutamente real na prática. Ele representa a descoberta amarga que diversos estados, municípios e órgãos federais fizeram quase simultaneamente: o Estado brasileiro não sabia o que tinha, não sabia o que valia, não sabia o que devia, não sabia como planejar o futuro.
Essa constatação foi devastadora.
Ela revelou que o formalismo jurídico não era suficiente para garantir boa gestão. Que o orçamento não revelava a verdade. Que a contabilidade pública — aquela que se contentou, por décadas, em cumprir ritos — havia se transformado em uma representação ilusória do Estado.
Esse choque desperta as primeiras vozes da modernização.
Auditores começam a questionar a ausência de controle patrimonial. Tribunais de contas passam a apontar fragilidades antes ignoradas. O Ministério da Fazenda percebe que o Brasil está desconectado de padrões internacionais. Gestores mais jovens identificam a necessidade de sistemas robustos. Acadêmicos apontam para os limites do modelo orçamentário. E a sociedade, cada vez mais conectada e exigente, passa a cobrar transparência.
Algo precisava mudar — e mudar rápido.
CAPÍTULO 14 — O SURGIMENTO DE UMA NOVA AGENDA: TRANSPARÊNCIA, RESPONSABILIDADE E PATRIMÔNIO
A crise patrimonial e fiscal dos anos 2000 coincide com o surgimento de uma nova agenda global: transparência, responsabilidade fiscal, governança e contabilidade patrimonial moderna. Países da Europa, Oceania e América Latina começam a adotar práticas contábeis baseadas em competências, avaliação de ativos e passivos, reconhecimento integral de obrigações, mensuração de riscos e demonstrações mais completas.
O mundo caminhava para uma contabilidade pública mais sofisticada, alinhada às Normas Internacionais (IPSAS). Enquanto isso, o Brasil estava preso a um modelo dos anos 1960 — um modelo que já havia se esgotado.
O choque dessa comparação gera uma onda de pressão por reformas:
organismos internacionais começam a dialogar com o governo brasileiro;
o Tesouro Nacional inicia estudos sobre contabilidade patrimonial;
tribunais de contas percebem a necessidade de mudar critérios;
universidades intensificam pesquisas sobre o tema;
estados e municípios enfrentam colapsos estruturais por falta de governança patrimonial;
e a sociedade passa a questionar custos, eficiência e resultados com maior veemência.
Nesse contexto, surge a pergunta que orientará toda a reconstrução da contabilidade pública brasileira: como governar um Estado moderno sem uma contabilidade patrimonial moderna?
A resposta, clara e definitiva, é: não é possível.
A crise patrimonial mostra que o Estado brasileiro não precisava apenas de ajustes técnicos — precisava de uma mudança cultural profunda, quase civilizatória, que o reconectasse à ideia mais fundamental da contabilidade pública: medir, conhecer, preservar e transformar o patrimônio coletivo.
É dessa crise que nascerá o movimento da “Nova Contabilidade Pública”, assunto que será tratado com profundidade na próxima PARTE IV.
📘 PARTE III — A CRISE E A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO
(Estilo narrativo — BLOCO 2/3)
CAPÍTULO 15 — A DÉCADA DO IMPROVISO: QUANDO A ADMINISTRAÇÃO SE TORNOU REATIVA
Ao atravessarmos a década de 2000, o Estado brasileiro enfrenta uma tempestade perfeita: demandas sociais crescentes, complexidade administrativa em expansão, pressões fiscais intensas e, ao mesmo tempo, ausência quase total de conhecimento sobre seu próprio patrimônio. É um cenário que transforma o improviso não apenas em prática recorrente, mas em estratégia de sobrevivência institucional.
Para entender essa fase, imagine uma prefeitura que assume o mandato em 2005. O novo prefeito exige saber quantas escolas o município possui, quantos alunos atende, quantas salas de aula estão em condições adequadas, qual o valor dos prédios, quantos veículos existem na frota e qual é a necessidade de manutenção para os próximos quatro anos. Ao final de algumas semanas, ele percebe uma verdade desconcertante: a prefeitura não é capaz de responder a praticamente nenhuma dessas perguntas.
A Secretaria de Educação não possui inventário atualizado. A Secretaria de Obras não tem histórico de manutenção. A frota municipal é conhecida apenas pelos motoristas. Os prédios públicos não têm valor contábil confiável. Os equipamentos escolares foram comprados em anos diferentes sem padronização. As contas patrimoniais são meros números formais, desconectados da realidade.
Esse cenário força o gestor a agir às cegas. E essa cegueira produz improvisos sucessivos:
a obra que deveria ser manutenção torna-se reconstrução;
a compra que seria preventiva torna-se emergencial;
o planejamento que seria anual torna-se mensal;
a decisão que deveria ser técnica torna-se intuitiva;
e a gestão que deveria ser racional se torna reativa.
Esse ciclo cria uma administração que não consegue se antecipar aos problemas. Ela só consegue resolver aquilo que explode — e, muitas vezes, explode tarde demais. O Estado passa a viver como um bombeiro, sempre correndo para apagar incêndios gerados pela própria falta de planejamento patrimonial.
Esse é o auge do Estado improvisado: um Estado que funciona, mas funciona mal; que entrega serviços, mas a custos altíssimos; que constrói, mas não conserva; que compra, mas não controla; que gasta, mas não sabe quanto custa governar.
É essa deterioração estrutural que torna inevitável a mudança que viria em seguida.
CAPÍTULO 16 — A MÁQUINA PÚBLICA SEM MEMÓRIA: O LEGADO DA FRAGMENTAÇÃO
Outro elemento decisivo da crise é a falta de memória institucional. A administração pública brasileira, por não possuir sistemas integrados nem contabilidade patrimonial consistente, viveu décadas dependendo do conhecimento oral de seus servidores mais antigos. Era uma espécie de “tradição contábil oral”, em que informações importantes eram transmitidas sem registros estruturados.
Considere o seguinte cenário — real para centenas de municípios. Um servidor técnico, que trabalha na prefeitura desde 1987, sabe de cor:
onde estão os imóveis municipais em áreas rurais;
quais veículos foram comprados em cada mandato;
que obras ficaram inacabadas e em que governo;
quais terrenos a prefeitura recebeu por doação;
quais prédios pertencem ao Estado e estão cedidos ao município;
quais galpões antigos são, de fato, municipais.
Mas nada disso está registrado adequadamente. Essa “memória viva” se torna ainda mais problemática quando o servidor se aposenta.
Ao perder essas pessoas, as prefeituras perdem sua história administrativa. E sem história, não há passado. Sem passado, não há diagnóstico. Sem diagnóstico, não há planejamento. Sem planejamento, não há futuro.
A máquina pública passa a ser uma entidade amnésica, funcional, mas incapaz de aprender com sua própria trajetória. Essa falta de memória institucional é talvez o elemento mais profundo da crise patrimonial brasileira. Ela impede que o Estado evolua, porque o obriga a recomeçar do zero a cada quatro anos.
Isso explica por que tantos municípios brasileiros repetem erros idênticos por décadas — falta de inventário, obras paradas, frota sucateada, inadimplência recorrente, perda de convênios, descontrole de almoxarifado, passivos trabalhistas crescentes, e assim por diante. Eles não erram por incapacidade técnica. Eles erram porque não têm memória.
A crise da contabilidade pública, portanto, não é apenas uma crise de registro. É uma crise identitária. Uma crise da própria existência do Estado enquanto instituição capaz de se reconhecer em sua trajetória e aprender com ela.
CAPÍTULO 17 — QUANDO A REALIDADE EXIGE O QUE O MODELO NÃO TEM: CUSTOS, RESULTADOS E EFICIÊNCIA
Apesar da crise patrimonial, a sociedade brasileira se torna mais exigente. A partir dos anos 2000, com o avanço da internet, da transparência pública e do debate sobre eficiência do gasto, a população passa a perguntar coisas que o Estado não tinha condições de responder:
Quanto custa manter uma escola funcionando?
Quanto custa um leito hospitalar?
Quanto custa recolher o lixo?
Quanto custa iluminar a cidade?
Qual é o custo por aluno?
Quanto custa uma unidade básica de saúde?
Quais serviços são mais caros e por quê?
Qual o custo por quilômetro de estrada mantido?
O Estado é eficiente?
Os recursos são suficientes?
A gestão é sustentável?
Essas perguntas representavam a modernidade batendo à porta. Mas o modelo orçamentário não tinha respostas.
O orçamento dizia apenas quanto é empenhado, liquidado e pago — não quanto custa, não quanto vale, não quanto dura, não quanto se deprecia, não quanto é perdido por falta de manutenção. Era como tentar administrar uma empresa global usando apenas a conta bancária, ignorando ativos, estoques, máquinas, imóveis, contratos, riscos e obrigações.
A pressão por eficiência não veio apenas da sociedade. Veio também:
do Banco Mundial,
do FMI,
de organismos técnicos internacionais,
da ONU,
de comparações internacionais de desempenho,
dos primeiros modelos de governança pública,
e das crises fiscais que atingiram os estados.
Ao mesmo tempo, o Brasil passou a adotar padrões de responsabilidade fiscal mais rigorosos. A Lei de Responsabilidade Fiscal (2000) trouxe uma agenda de sustentabilidade fiscal que exigia controle de endividamento, planejamento e limites de gasto. Ela não tratava de patrimônio diretamente, mas sua lógica exigia um Estado mais profissional, estruturado, transparente — não um Estado que desconhecia sua própria estrutura.
Assim, a exigência por contabilidade patrimonial, custos, eficiência, planejamento, responsabilidade e governança começou a surgir de todas as direções ao mesmo tempo. Mas o modelo antigo não tinha arcabouço para isso — e começou a ruir.
CAPÍTULO 18 — O GESTOR EM COLAPSO: O FIM DA ERA DO IMPROVISO
O gestor público da década de 2000 se viu diante de uma situação inédita. Pela primeira vez, ele precisava tomar decisões que exigiam dados que simplesmente não existiam.
Um prefeito que assumia a gestão em 2008 podia até fazer um discurso otimista na posse, mas bastava atravessar o primeiro trimestre para descobrir:
que não havia informações confiáveis sobre a frota;
que os imóveis públicos tinham documentação incompleta;
que escolas estavam deterioradas sem laudos;
que havia passivos trabalhistas ocultos;
que obras inacabadas se acumulavam como passivos políticos;
que não existia qualquer controle de custos;
que os sistemas contábeis eram rudimentares;
que o orçamento não revelava a verdadeira situação do município.
E, como se não bastasse, a sociedade agora exigia mais:
exigia prestação de contas real, e não formal;
exigia eficiência, e não apenas execução;
exigia transparência, e não apenas relatórios ritualísticos;
exigia resultados, e não despesa empenhada.
O gestor se vê encurralado entre duas eras:
a era velha, que ainda dominava a máquina pública;
e a era nova, que batia à porta com força.
É nesse momento histórico que surge a compreensão — ainda tímida, mas crescente — de que a contabilidade pública brasileira precisava ser reconstruída.
Essa reconstrução, porém, não seria apenas uma mudança de leis ou de sistemas. Ela exigiria uma transformação cultural profunda. Exigiria romper com práticas de décadas. Exigiria enfrentar resistências históricas. Exigiria mudar a forma de pensar, planejar e executar.
E foi exatamente essa necessidade que deu nascimento ao movimento que mudaria tudo: a Nova Contabilidade Pública — tema central da Parte IV.
CAPÍTULO 19 — QUANDO AS SOMBRAS APARECEM: O PATRIMÔNIO ESCONDIDO QUE VEM À LUZ
A crise da contabilidade pública, que se arrastava silenciosamente por décadas, atinge seu ponto máximo quando o Estado brasileiro começa, finalmente, a olhar para o próprio patrimônio. E o que se vê é perturbador. É como acender a luz em um cômodo que ficou escuro por quarenta anos. Nada está no lugar. Algumas coisas desapareceram. Outras se deterioraram. Outras foram mal guardadas. Outras nunca existiram como se imaginava.
O “pânico patrimonial” toma forma em órgãos que, pela primeira vez, realizam levantamentos completos de seus ativos. Imóveis sem documentação, terrenos ocupados irregularmente, prédios públicos abandonados, obras paralisadas há décadas, veículos sucateados, equipamentos em estado terminal, mobiliário deteriorado, máquinas que se confundem com sucata.
Mais grave ainda é o surgimento dos passivos ocultos — obrigações que nunca haviam sido registradas adequadamente:
indenizações trabalhistas;
dívidas de contratos não encerrados;
compromissos assumidos verbalmente;
obras iniciadas sem projeto completo;
serviços prestados e nunca liquidados;
passivos de manutenção acumulados por anos;
contratos de cessão e permuta sem registro jurídico;
inadimplências crônicas com fornecedores.
Esses passivos silenciosos crescem como raízes subterrâneas que ninguém vê — até que um dia rompem o solo e derrubam a árvore inteira. A partir de 2008, muitos municípios começam a experimentar esse colapso. Prestadores de serviço, há anos sem receber, judicializam dívidas. Obras inacabadas se tornam objeto de ações civis públicas. Prefeituras descobrem que estão endividadas muito além do evidente. Estados enfrentam colapsos fiscais que impactam saúde e educação.
A crise patrimonial sai dos bastidores e se torna crise política, crise fiscal, crise de governança.
E nesse momento crucial, o país compreende: o Estado não pode mais viver sem espelho.
CAPÍTULO 20 — A TECNOLOGIA DESNUDA O ESTADO: SISTEMAS, TRANSPARÊNCIA E EXPOSIÇÃO
A partir de meados dos anos 2000, um novo ator entra em cena — e muda tudo: a tecnologia da informação. Ela se torna o fator disruptivo que revela o que antes era invisível. Sistemas integrados, bancos de dados, automação, digitalização de processos, portais de transparência e plataformas governamentais tornam impossível continuar administrando com improvisos e papéis soltos.
Quando os primeiros sistemas de gestão governamental começam a se espalhar por municípios e estados, o impacto é imediato. Pela primeira vez, os órgãos conseguem visualizar, mesmo que ainda de forma rudimentar, a quantidade de bens, obras, veículos, contratos, equipamentos e materiais sob sua responsabilidade. E essa visualização expõe a fragilidade da gestão pública.
Pense no momento em que um sistema de patrimônio é instalado em um município pela primeira vez. O software exige dados que a prefeitura não possui. Ele quer saber:
valor de aquisição;
data de aquisição;
vida útil;
estado de conservação;
localização precisa;
responsável pelo bem;
depreciação acumulada;
histórico de manutenção.
A prefeitura não sabe responder. E o sistema trava. E o gestor percebe que sua administração está nua, exposta, desarticulada. A tecnologia desmascara décadas de negligência patrimonial.
Ao mesmo tempo, surgem leis de transparência, portais de acesso público, exigências de prestação de contas online, processamento eletrônico de dados, integração com a Lei de Responsabilidade Fiscal, convênios eletrônicos, sistemas do Tesouro Nacional, exigências de envio de informações padronizadas.
A máquina pública antiquada, acostumada ao improviso, sente o impacto como um choque elétrico. A administração deixa de ser “caixa-preta”. O patrimônio deixa de ser invisível. A contabilidade deixa de ser ritual.
O Estado descobre que não pode mais esconder-se atrás de livros contábeis manuscritos, relatórios formais e linguagem jurídica. A pressão pela informação real se torna inadiável.
CAPÍTULO 21 — O SURGIMENTO DE UMA NOVA GERAÇÃO DE GESTORES E CONTADORES
Ao mesmo tempo em que surge a crise patrimonial, surge também uma nova geração de gestores públicos, contadores, auditores e analistas com outra formação, outra mentalidade e outro repertório técnico. São profissionais que já não aceitam a lógica improvisada do passado. Que conhecem ferramentas modernas, tecnologias, modelos de gestão e padrões internacionais.
Essa nova geração começa a olhar para a administração pública com estranhamento. Para eles, é inconcebível que um hospital funcione sem controle patrimonial. Que uma escola não tenha inventário. Que uma secretaria de obras não possua banco de dados de manutenção. Que um município não saiba quanto custa recolher lixo ou manter ruas iluminadas. Eles enxergam o Estado como uma grande organização — e organizações modernas não vivem sem contabilidade patrimonial.
Esses profissionais começam a ocupar espaços estratégicos:
contador-chefe de secretarias;
chefes de controladorias internas;
auditores municipais e estaduais;
técnicos em tribunais de contas;
analistas do Tesouro Nacional;
consultores de sistemas;
professores universitários;
coordenadores de planejamento;
gestores da nova administração pública.
Eles chegam com uma visão radicalmente diferente:
defendem integração de sistemas;
defendem contabilidade patrimonial plena;
defendem avaliação de ativos e passivos;
defendem transparência real;
defendem custos, eficiência e resultados;
defendem planejamento plurianual baseado em evidências;
defendem governança e sustentabilidade.
Essa nova geração será peça-chave na reconstrução da contabilidade pública brasileira. Eles terão o papel de romper com décadas de cultura improvisada e inserir a lógica patrimonial na mentalidade do Estado.
CAPÍTULO 22 — A PRESSÃO POR CONVERGÊNCIA: QUANDO O MUNDO SE APROXIMA DO BRASIL
Enquanto isso, o cenário internacional passa a exigir práticas convergentes. A globalização dos mercados, a integração financeira internacional e a necessidade de comparabilidade entre demonstrações contábeis dos países criam um novo padrão global: as IPSAS — International Public Sector Accounting Standards.
Essas normas transformam completamente a lógica contábil do setor público. Elas exigem:
regime de competência;
reconhecimento amplo de ativos e passivos;
mensuração ao valor justo;
avaliação de riscos fiscais;
registro patrimonial completo;
demonstrações econômicas robustas;
integração com planejamento e orçamento;
governança sobre bens e obrigações.
O contraste entre as IPSAS e a contabilidade pública brasileira da época é tão grande que parece que os documentos falam línguas diferentes. Enquanto o mundo avança para demonstrações patrimoniais completas, o Brasil ainda se concentra em demonstrativos formais de execução financeira.
Essa pressão internacional — somada à crise interna — cria o terreno perfeito para a maior transformação contábil da história brasileira. Uma transformação que começaria lentamente, com debates acadêmicos, estudos no Tesouro Nacional, criticidade nos tribunais de contas, artigos científicos e pressões de organismos multilaterais.
E esse movimento abriria caminho para a Nova Contabilidade Pública, tema da PARTE IV.
CAPÍTULO 23 — O ÚLTIMO SUSPIRO DO MODELO ANTIGO
Antes de encerrarmos esta parte, é importante compreender que o modelo antigo — orçamentário, formalista, improvisado — não morreu de uma vez. Ele resistiu. Resistiu muito. Resistiu como cultura, como hábito, como tradição, como modo de fazer, como forma mental de perceber o Estado.
Nos anos 2000 e 2010, ainda era possível encontrar prefeituras onde:
o patrimônio era registrado em cadernos;
bens públicos não tinham plaquetas;
escolas funcionavam em prédios sem matrícula;
secretarias não sabiam quantos veículos tinham;
obras públicas eram abandonadas sem registro;
contadores não aplicavam regime de competência;
balanços patrimoniais eram meros documentos formais;
sistemas de gestão eram usados apenas parcialmente;
e a cultura administrativa seguia presa às práticas dos anos 1960.
Mas essa resistência era, ao mesmo tempo, um sintoma de morte. O modelo antigo estava sendo pressionado por todos os lados:
pela realidade social;
pela tecnologia;
pela legislação;
pelos tribunais;
pelas normas internacionais;
e por uma nova geração de profissionais.
O velho estava ruindo — e o novo precisava nascer.
Esse é o momento exato em que termina a PARTE III. A partir daqui, começa a reconstrução: a virada normativa, cultural e institucional que levará o Brasil à Nova Contabilidade Pública.
📘 PARTE IV — A RECONSTRUÇÃO MODERNA DA CONTABILIDADE PÚBLICA
CAPÍTULO 24 — O NASCIMENTO DE UMA NOVA ERA: QUANDO O PATRIMÔNIO VOLTA À SUPERFÍCIE
Depois de décadas à sombra do orçamento, o patrimônio finalmente retorna ao centro do debate público. Esse retorno não acontece por vontade política espontânea, mas pela conjunção de três grandes forças: as crises fiscais, a pressão internacional e a maturação institucional do Brasil.
Ao longo dos anos 2000, municípios e estados passaram a enfrentar gargalos financeiros que a visão orçamentária não conseguia explicar. O orçamento dizia que estava tudo “em ordem”. Mas a realidade dizia o contrário: prédios ruídos, pontes caindo, escolas deterioradas, passivos gigantescos, equipamentos obsoletos, gasto público crescente e qualidade de serviço estagnada.
A crise patrimonial expôs a farsa do modelo antigo. E para enfrentar essa crise, o país precisava reconstruir sua contabilidade pública — não com remendos, mas com um novo paradigma.
Esse novo paradigma começava com uma pergunta simples, mas revolucionária para padrões brasileiros:
O que o Estado realmente possui? Quanto vale? Em que estado se encontra? Quanto custa manter tudo isso funcionando?
Essas perguntas inauguram a era da reconstrução moderna.
CAPÍTULO 25 — O TESOURO NACIONAL ACORDA: O PAPEL DO GOVERNO FEDERAL NA VIRADA
A reconstrução moderna da contabilidade pública no Brasil não começou nos municípios — começou no governo federal, especialmente no Tesouro Nacional. Foi ali que surgiram os primeiros debates técnicos sobre convergência às normas internacionais, adoção do regime de competência e necessidade de uma contabilidade patrimonial robusta.
Os técnicos do Tesouro, ao analisarem as IPSAS, perceberam o abismo entre o Brasil e o resto do mundo. Enquanto os países avançavam para modelos completos de reconhecimento de ativos, passivos, custos e riscos, o Brasil permanecia preso a um modelo dos anos 1960 baseado apenas na execução orçamentária.
O Tesouro então inicia um movimento estratégico e silencioso. Os primeiros estudos são produzidos. Os primeiros grupos de trabalho são formados. Os primeiros seminários e encontros técnicos são organizados. Universidades começam a ser envolvidas. Pesquisadores começam a se concentrar no tema. Tribunais de contas passam a dialogar com o setor técnico.
De forma gradual, e muitas vezes discreta, nasce uma nova mentalidade dentro da máquina federal: a mentalidade de que o Estado brasileiro precisa ser transparente não apenas nos gastos, mas na sua realidade econômica.
O patrimônio volta a ser assunto. E voltar a falar de patrimônio, no Brasil, é um ato de ruptura cultural.
CAPÍTULO 26 — O ANO DE 2008: O DIVISOR DE ÁGUAS SILENCIOSO
Se existe um ano simbólico na reconstrução moderna da contabilidade pública brasileira, esse ano é 2008. Ele marca o início oficial da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS), traduzidas e adaptadas como NBCTSP e MCASP.
A partir desse momento, a contabilidade pública brasileira começa a mudar não apenas de forma, mas de essência.
O país passa a adotar conceitos antes considerados “exóticos” pela cultura administrativa:
regime de competência;
reconhecimento de ativos e passivos;
avaliação patrimonial;
depreciação, amortização e exaustão;
provisões e passivos contingentes;
mensuração de bens de infraestrutura;
análise de risco fiscal;
demonstrações econômicas completas;
integração entre contabilidade, planejamento e orçamento;
governança sobre o patrimônio público.
Essa virada não é trivial. Não é cosmética. Não é uma mera mudança de planilha. É uma revolução cognitiva e institucional.
É a primeira vez, em mais de 50 anos, que o Brasil passa a olhar para o Estado como uma entidade econômica completa e não apenas como uma máquina de execução orçamentária.
CAPÍTULO 27 — O IMPACTO NAS PREFEITURAS: QUANDO O NOVO ENTRA EM CHOQUE COM O VELHO
A adoção das normas internacionais cria um impacto imediato nos municípios. Pela primeira vez, as prefeituras são obrigadas a:
inventariar seus bens;
incorporar ativos esquecidos;
avaliar perdas;
reconhecer passivos;
registrar depreciação;
controlar almoxarifado de forma patrimonial;
estruturar sistemas de custos;
mensurar obrigações reais;
padronizar práticas contábeis;
e abandonar a informalidade patrimonial.
Para a maioria dos municípios, essa transição foi traumática.
Imagine uma prefeitura que nunca havia feito inventário. De repente, precisa registrar milhares de bens. Precisa atribuir valores, classificar itens, separar o que é consumo do que é permanente. Precisa criar controles internos. Precisa lidar com sistemas informatizados pela primeira vez.
Essa ruptura representa o choque entre duas eras:
A era da improvisação × A era da técnica A era do papel solto × A era do sistema integrado A era da cultura oral × A era da informação registrada A era patrimonialista × A era da governança
Muitos gestores resistem. Outros ignoram. Outros enfrentam. E alguns se tornam exemplos nacionais.
Porque essa transição não é apenas técnica — é cultural. Ela exige mudança de mentalidade, mudança de incentivos, mudança de visão sobre o papel do Estado.
CAPÍTULO 28 — O PAPEL TRANSFORMADOR DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
Os tribunais de contas, antes guardiões rígidos do ritual orçamentário, passam a adotar outra postura. Aos poucos, eles percebem que é impossível controlar contas públicas com foco apenas no orçamento. Eles começam a exigir:
inventários periódicos;
controle de bens móveis;
gestão de frota;
registro patrimonial de infraestrutura;
avaliação de imobilizado;
análise de passivos;
sistemas de custos;
informações patrimoniais completas.
Essa mudança altera o eixo do controle externo. O Tribunal deixa de ser “fiscal do orçamento” para se tornar fiscal da realidade patrimonial.
É esse movimento — simultâneo ao do Tesouro Nacional — que consolida a necessidade da reconstrução moderna.
CAPÍTULO 29 — A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA: A REINVENÇÃO DE UM SISTEMA
A partir de 2008, com a convergência às normas internacionais, surge aquilo que chamamos hoje de Nova Contabilidade Pública Brasileira. Ela não é apenas uma evolução: é uma mudança de paradigma, comparável à passagem da administração patrimonialista para a burocrática no início do século XX, ou da burocrática para a gerencial na década de 1990.
A nova contabilidade surge com uma premissa fundamental: o Estado precisa saber quem é, o que tem, quanto vale, quanto deve e quanto custa funcionar.
Essa premissa, tão simples na teoria, é revolucionária na prática. Ela exige abandonar décadas de improviso e adotar práticas baseadas em ciência, técnica, transparência e mensuração patrimonial.
A Nova Contabilidade Pública introduz pilares inéditos na cultura administrativa brasileira:
✔ 1. Regime de Competência
Pela primeira vez, o Estado precisa registrar fatos quando ocorrem — não quando são pagos. Isso muda tudo: traz visibilidade aos passivos, revela compromissos futuros, torna clara a deterioração patrimonial.
✔ 2. Contabilidade Patrimonial Completa
Bens móveis, imóveis, infraestrutura, estoques, investimentos, intangíveis, provisões, obrigações sociais — tudo precisa ser reconhecido e mensurado.
✔ 3. Avaliação e Mensuração de Ativos
Depreciação, amortização, exaustão, reavaliação, impairment. Conceitos antes exclusivos do setor privado entram definitivamente no setor público.
✔ 4. Passivos Reais e Ocultos
Indenizações, contratos, provisões, obrigações por benefícios, riscos fiscais. A máscara do orçamento cai — e os compromissos verdadeiros aparecem.
✔ 5. Demonstrações Econômicas
Balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, fluxo patrimonial, integração com planejamento e custos.
✔ 6. Sistematização Tecnológica
A era dos sistemas emerge: integração entre contabilidade, patrimônio, almoxarifado, obras, contratos, pessoal.
✔ 7. Custos e Desempenho
Um Estado que sabe quanto custa pode planejar melhor; pode estabelecer metas reais; pode entregar resultados mais consistentes.
Essa transformação não é rápida nem linear. Ela acontece em camadas, em ritmos diferentes, com avanços e retrocessos. Mas é irreversível.
CAPÍTULO 30 — O MCASP: A “CONSTITUIÇÃO CONTÁBIL” DO ESTADO BRASILEIRO
Se a Lei 4.320/1964 foi a “Constituição Orçamentária” do Brasil, o MCASP — Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público — se tornou sua Constituição Contábil.
O MCASP surge como documento técnico de referência nacional, reunindo:
princípios patrimoniais;
regras de reconhecimento;
critérios de mensuração;
orientações sobre depreciação;
procedimentos para avaliação;
estrutura de contas;
modelos de demonstrações;
diretrizes para integração contábil;
padrões para custos;
orientações para ativos de infraestrutura;
condutas para registros complexos;
referências ao patrimônio público total.
É o primeiro documento que:
sistematiza o patrimônio;
uniformiza a contabilidade entre entes federados;
traduz IPSAS para a realidade brasileira;
obriga municípios e estados a adotarem práticas modernas.
Seu impacto é enorme.
Pela primeira vez, uma prefeitura do interior da Bahia, um estado como o Paraná e um órgão federal compartilham a mesma base conceitual contábil. O país deixa de ser a colcha de retalhos normativa do século XX para se tornar um território de uniformização técnica.
CAPÍTULO 31 — A REVOLUÇÃO DA DEPRECIAÇÃO: O MOMENTO QUE NINGUÉM ESPERAVA
Se há um momento simbólico na reconstrução moderna, é o momento em que o setor público brasileiro é obrigado a calcular depreciação.
Essa exigência, que a princípio parece técnica e despretensiosa, é na verdade um ato civilizatório. Ela rompe com décadas de negação patrimonial. Ela força o Estado a reconhecer que seus bens envelhecem, deterioram, perdem valor e precisam ser repostos.
Depreciar é dizer a verdade. É admitir que:
veículos não duram para sempre;
escolas precisam de manutenção constante;
prédios se degradam;
máquinas quebram;
equipamentos não são eternos;
mobiliário envelhece;
infraestruturas perdem eficiência.
É um choque cultural.
Muitos gestores rejeitam. Muitos contadores estranham. Muitos tribunais resistem.
Mas, aos poucos, a depreciação entra no vocabulário da administração pública. E quando entra, ela muda tudo:
revela perdas patrimoniais;
expõe negligência histórica;
mostra a necessidade de modernizar a estrutura física;
evidencia a precariedade de muitos órgãos públicos;
cria incentivos para manutenção;
exige políticas de reposição.
Depreciar é assumir a responsabilidade pelo futuro. É aceitar que o patrimônio precisa ser cuidado — e não apenas adquirido.
CAPÍTULO 32 — A RETOMADA DO INVENTÁRIO: O PRIMEIRO PASSO DA CIVILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
A Nova Contabilidade Pública devolve ao Estado algo que ele havia perdido há décadas: a prática do inventário físico.
Inventariar é o gesto mais básico de qualquer organização. Mas, paradoxalmente, era um dos gestos mais ausentes na administração pública brasileira.
O inventário marca o início da reconstrução:
é ele que confirma a existência dos bens;
é ele que corrige registros;
é ele que revela desaparecimentos;
é ele que identifica deteriorações;
é ele que separa o que é útil do que é sucata;
é ele que define necessidades de reposição;
é ele que liga o mundo físico ao mundo contábil.
Para muitos municípios, inventariar é um choque de realidade. É descobrir que metade dos bens não existe mais. É descobrir que equipamentos antigos ainda constavam como novos. É encontrar prédios inexistentes no cadastro. É perceber que obras foram pagas e não concluídas. É revelar um patrimônio esquecido.
É, também, o momento em que o contador deixa de ser “guardião do orçamento” e se torna “guardião da verdade patrimonial”.
CAPÍTULO 33 — A MUDANÇA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS: DO RITUAL AO RESULTADO
A partir da reconstrução moderna, os tribunais passam a valorizar não apenas conformidade legal, mas realidade patrimonial.
Auditorias passam a incluir:
itens de infraestrutura;
vida útil de ativos;
situação física de escolas;
controle de frota;
gestão de contratos;
risco fiscal;
indicadores de eficiência;
análise de custos;
registro de bens culturais;
passivos ambientais;
patrimônio afetado e não afetado.
O julgamento de contas começa a incluir fatores que antes eram invisíveis. O orçamento perde sua hegemonia absoluta. O patrimônio volta a influenciar decisões de controle externo.
Essa mudança altera a cultura administrativa de forma profunda.
📘 PARTE V — PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS E TENSÕES ATUAIS
(CAPÍTULO 39)
CAPÍTULO 39 — O ESTADO EM TRANSFORMAÇÃO: AS PRÁTICAS QUE MARCAM O SÉCULO XXI
Entramos agora no território do presente. Após décadas de improviso, colapso, reconstrução normativa e revolução tecnológica, o Estado brasileiro vive hoje um cenário paradoxal: é simultaneamente moderno e atrasado. Possui as ferramentas, mas nem sempre a cultura. Tem as normas, mas ainda não consolidou as práticas. Sabe o que precisa fazer, mas nem sempre encontra ambiente político ou organizacional para fazê-lo.
Para entender as práticas contemporâneas, imagine uma prefeitura em 2024. Ela possui:
um sistema SIAFIC implantado;
um módulo de patrimônio considerado robusto;
integração com almoxarifado e contratos;
portal da transparência atualizado;
notas fiscais eletrônicas;
contabilidade informatizada;
acesso ao MCASP e às NBCTSP;
auditoria eletrônica pelo Tribunal de Contas;
relatórios automáticos de depreciação.
No entanto, quando o gestor precisa tomar decisões cruciais, ele descobre que:
o almoxarifado não é usado corretamente;
muitos bens ainda não têm plaqueta;
obras são registradas de forma incompleta;
a integração entre planejamento e orçamento é falha;
a frota é subutilizada ou superutilizada;
o inventário ainda depende de força-tarefa;
muitos servidores não entendem o regime de competência;
gestores recém-nomeados tratam orçamento como fim em si mesmo.
Esse cenário híbrido — moderno e pré-moderno ao mesmo tempo — define as práticas contemporâneas da contabilidade pública brasileira.
Um Estado que tenta mudar, mas carrega heranças profundas.
Um Estado que avança, mas é puxado para trás pela cultura administrativa.
Um Estado que possui instrumentos do século XXI, mas hábitos do século XX.
Essa é a moldura em que se inserem os próximos capítulos.
CAPÍTULO 40 — O PARADOXO DO SIAFIC: QUANDO O SISTEMA AVANÇA, MAS A CULTURA FICA PARA TRÁS
O SIAFIC, criado para unificar a administração financeira e contábil dos entes federados, representa um dos maiores avanços da história recente da gestão pública brasileira. Ele nasce com um propósito claro: romper a fragmentação, eliminar ilhas de informação, evitar manipulações e garantir transparência plena.
Tecnicamente, ele é brilhante: integra empenho, liquidação, pagamento, contratos, almoxarifado, patrimônio, obras, receitas, convênios, folha, controle interno e contabilidade em uma única estrutura lógica. Mas seu maior desafio não é técnico — é cultural.
1. O SIAFIC exige o que a cultura não entrega
Para que o SIAFIC funcione plenamente, é necessário:
almoxarifado organizado;
controle patrimonial rigoroso;
registro tempestivo de bens;
contratos bem estruturados;
integração com sistemas de obras;
servidores treinados;
aderência ao regime de competência;
gestão documental completa.
Mas a realidade de muitos municípios revela:
estoques desorganizados;
bens sem etiqueta;
obras registradas parcialmente;
notas fiscais cadastradas por costume, não por norma;
documentos arquivados em caixas antigas;
ausência de fluxo de informações entre secretarias;
despreparo técnico dos responsáveis;
rotatividade política que destrói continuidade administrativa.
O SIAFIC, nesse contexto, se torna um sistema avançado operado por uma cultura atrasada.
2. O sistema revela, sem piedade, as fragilidades institucionais
O SIAFIC não permite “jeitinho”. O sistema exige informação completa, lógica, encadeada.
Se uma obra é lançada errado, o sistema trava. Se um bem não é incorporado, o módulo patrimonial “chama atenção”. Se o almoxarifado não registra corretamente, surgem inconsistências. Se o empenho não corresponde ao contrato, o sistema sinaliza alerta. Se a liquidação é feita sem documento comprobatório, há risco de apontamento.
O SIAFIC é um espelho — e um espelho cruel, porque não aceita versões, apenas fatos.
3. A resistência silenciosa
Muitos servidores, acostumados a trabalhar com:
planilhas paralelas,
formulários improvisados,
cadernos de controle,
memoriais orais,
processos pouco documentados,
sentem o SIAFIC como uma invasão, uma cobrança, uma intolerância da máquina.
A resistência é silenciosa, mas constante:
“isso é muito complicado…”
“antes era mais fácil fazer…”
“não precisa lançar tudo…”
“depois a empresa terceirizada ajeita…”
“isso não atrapalha no orçamento mesmo…”
Essas frases revelam uma disputa entre duas eras.
4. O gestor entre duas forças
O SIAFIC exige decisões racionais. A política exige decisões imediatas.
O prefeito quer inaugurar obras, mas o sistema mostra que há pendências patrimoniais. A secretaria quer comprar novos equipamentos, mas o módulo de custos revela subutilização. A gestão quer lançar programas sociais, mas o sistema mostra risco fiscal. O prefeito quer contratar empresa rapidamente, mas o controle interno aponta falhas.
A modernidade e o improviso entram em choque. E o contador fica no epicentro desse conflito.
5. A grande verdade: o SIAFIC não resolve nada sozinho
Ele não cria cultura. Ele não cria responsabilidade. Ele não cria memória institucional. Ele não cria técnica.
O SIAFIC é uma ferramenta poderosa, mas depende de:
pessoas treinadas,
processos claros,
cultura de registro,
disciplina institucional,
contadores valorizados,
controle interno ativo,
gestores comprometidos.
Sem isso, ele se transforma em um sistema de alto nível usado de forma mínima, apenas para cumprir a legislação.
6. O paradoxo
O paradoxo contemporâneo é que:
📌 O Brasil possui sistemas avançados — mas mentalidades antigas. 📌 Possui normas avançadas — mas práticas frágeis. 📌 Possui contabilidade moderna — mas estruturas políticas arcaicas.
CAPÍTULO 41 — A NOVA GESTÃO PÚBLICA EM DISPUTA: ENTRE A GOVERNANÇA E O PATRIMONIALISMO
O século XXI trouxe uma promessa ambiciosa para o setor público brasileiro: a ideia de que era possível construir uma Administração Pública baseada em governança, evidências, transparência e resultados. No discurso, esse projeto avançou. Na prática, ele enfrenta resistência diária do velho modelo patrimonialista — aquele que vê a prefeitura como extensão de grupos políticos, e não como instituição de Estado.
A contabilidade pública, nesse cenário, se torna campo de disputa. Não é mais apenas técnica: é política, é cultural, é ideológica, é geracional, é identitária.
1. A "Nova Gestão Pública" tenta entrar pela porta da frente
Governança, planejamento, metas, custos, desempenho, controle interno estruturado, sistemas integrados, indicadores — tudo isso compõe o novo vocabulário da administração moderna.
Essa gestão exige:
decisões técnicas;
previsibilidade;
continuidade administrativa;
métricas claras;
servidores capacitados;
controle interno forte;
contabilidade como base de decisões.
Ela enxerga o Estado como organização que deve entregar valor ao cidadão.
2. Mas o patrimonialismo tenta entrar pela porta dos fundos
O patrimonialismo — herança histórica brasileira — resiste. E resiste de forma ativa.
Ele vive nas frases:
“Aqui sempre foi assim.”
“Não complica, faz aí do jeito rápido.”
“Depois a empresa de contabilidade ajusta isso.”
“Não precisa inventar moda, ninguém nunca cobrou isso antes.”
“É só empenhar que resolve.”
“Esses inventários só dão trabalho.”
“Quem manda é o prefeito.”
“Isso não dá voto.”
Esse discurso é a expressão da velha lógica, baseada em:
improviso,
informalidade,
centralização do poder,
desprezo pelo patrimônio,
desprestígio do servidor concursado,
manipulação de informações,
cultura de apagar incêndios.
Ele enxerga o Estado como extensão de grupos, não como instituição republicana.
3. O conflito diário entre as duas visões
O cotidiano das prefeituras é palco de um embate silencioso:
O técnico recomenda registrar depreciação;
O político diz que isso “não importa”.
O contador quer implantar custos;
O secretário diz “não precisa”.
O controle interno aponta inconsistências;
O gestor responde “depois a gente vê”.
O sistema SIAFIC exige integração;
os setores continuam isolados.
É um conflito psicológico, institucional e até moral.
4. A figura do gestor intermediário: quem sofre no meio da guerra
O diretor administrativo, o chefe de contabilidade, o controlador interno, o contador efetivo — todos eles vivem diariamente o dilema de tentar implantar práticas modernas enquanto são pressionados por uma cultura contrária.
Eles se sentem:
esgotados,
desmotivados,
sobrecarregados,
desautorizados,
desamparados,
frustrados por tentarem “fazer certo” num ambiente que puxa para trás.
Essa exaustão cumulativa é uma das principais causas de adoecimento institucional na gestão pública contemporânea.
5. A sociedade não percebe o conflito — mas sofre seus efeitos
Quando o patrimonialismo vence:
obras atrasam,
compras são mal planejadas,
escolas deterioram,
hospitais ficam sem manutenção,
frota pública se desmancha,
bens desaparecem,
o dinheiro público é desperdiçado.
Quando a governança vence:
serviços melhoram,
custos caem,
patrimônio é preservado,
transparência aumenta,
o planejamento funciona,
o Estado se torna confiável.
Mas esse embate não é visível para a população — ele acontece nos bastidores administrativos, nas salas dos contadores, nos corredores das secretarias.
6. O papel decisivo da contabilidade nesse campo de batalha
A contabilidade pública moderna é o instrumento mais poderoso contra o patrimonialismo. Ela:
expõe irregularidades,
reduz o improviso,
aumenta a transparência,
cria rastreabilidade,
fortalece o controle interno,
impede manipulação,
profissionaliza a gestão,
obriga planejamento,
quebra paradigmas antigos.
Por isso, paradoxalmente, ela é muitas vezes alvo de resistência.
7. A transição ainda está em curso
O Brasil não abandonou o patrimonialismo. Mas também não retrocedeu. Estamos no limiar entre dois mundos — e o resultado dessa disputa determinará a qualidade do Estado brasileiro nas próximas décadas.
📘 PARTE V — PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS E TENSÕES ATUAIS
(CAPÍTULO 42)
CAPÍTULO 42 — O CONFLITO ENTRE TERCEIRIZAÇÃO E SOBERANIA TÉCNICA: QUANDO O ESTADO ABDICA DE SI MESMO
A terceirização dos serviços de contabilidade pública se tornou, nas últimas décadas, uma prática tão comum que muitos gestores já não conseguem sequer imaginar a administração municipal sem a presença de empresas privadas atuando como cérebro técnico do Estado. Mas essa prática, embora comum, produz consequências profundas — algumas visíveis, outras silenciosas, e outras ainda devastadoras.
A terceirização, quando usada como apoio, pode ser legítima. Mas quando usada como substituição, transforma o Estado em um órgão dependente, vulnerável e tecnicamente enfraquecido. E, sobretudo, cria uma dinâmica perversa: a invisibilização do contador público concursado.
1. Como surgiu essa dependência das empresas?
O fenômeno não apareceu por acaso. Ele é fruto de uma sequência histórica:
fragilidade da formação contábil nas décadas passadas;
falta de concursos regulares;
ausência de carreiras atraentes para contadores;
falta de valorização institucional;
negligência histórica com a contabilidade patrimonial;
cultura de improviso;
ausência de sistemas próprios integrados;
falta de governança;
resistência a mudanças administrativas.
Nesse vácuo técnico, empresas terceirizadas ocuparam o espaço deixado pelo Estado.
2. O problema não é a empresa — é a substituição do Estado
A terceirização se torna um problema quando:
a empresa decide o que o órgão “pode” ou “não pode” lançar;
a empresa assume a interpretação normativa que deveria ser pública;
o contador efetivo vira um espectador;
a administração perde autonomia técnica;
a memória institucional desaparece;
o conhecimento patrimonial se perde;
o Estado se torna refém de contratos renovados indefinidamente.
É uma terceirização que não presta serviço — ocupa o lugar do Estado.
3. A erosão da soberania técnica
Soberania técnica é a capacidade do Estado de:
interpretar normas;
conduzir processos;
tomar decisões metodológicas;
padronizar rotinas;
definir critérios;
estabelecer entendimentos;
produzir conhecimento próprio.
Quando empresas terceirizadas assumem esse papel, o Estado:
perde autonomia;
perde técnica;
perde continuidade;
perde identidade profissional;
perde capacidade de governança.
É uma abdicação silenciosa — mas grave.
4. O ciclo vicioso da dependência
A prefeitura terceiriza porque não confia nos servidores. Os servidores não são treinados porque a prefeitura terceiriza. Como não são treinados, dependem ainda mais da empresa. E como dependem mais, a prefeitura terceiriza ainda mais.
O ciclo se repete, estrutural e psicologicamente:
📌 Quanto mais o Estado terceiriza, menos ele sabe. 📌 Quanto menos ele sabe, mais terceiriza.
Esse ciclo é extremamente perigoso, porque transforma municípios inteiros em estruturas administrativas fragilizadas, incapazes de reagir a crises quando a empresa contratada erra, some ou é substituída.
5. Os impactos institucionais
A substituição do contador efetivo por empresas privadas gera problemas concretos:
atrasos em balanços;
falta de padronização;
inconsistências data-driven;
vulnerabilidade jurídica;
risco de manipulação política;
fragilidade no controle interno;
perda de credibilidade;
instabilidade nos relatórios enviados a órgãos federais;
baixa capacidade de implantação de SIAFIC;
ausência completa de cultura de custos.
O Estado se torna tecnicamente dependente — e politicamente vulnerável.
6. Os impactos humanos (a ponte para o capítulo 43)
Mais profundo que o impacto técnico é o impacto humano:
servidores concursados são desautorizados;
perdem espaço;
deixam de ser consultados;
se sentem inúteis;
têm sua identidade profissional apagada;
observam empresas privadas “tomarem seus lugares”;
são tratados como auxiliares administrativos, e não como contadores;
enfrentam humilhações veladas;
recebem ordens indiretas de quem nem é servidor;
se afastam da própria ciência que estudaram.
Essa dor é invisível. Mas é real. E se tornou epidêmica em centenas de municípios brasileiros.
CAPÍTULO 43 — O CONTADOR INVISÍVEL:
AS CONSEQUÊNCIAS COGNITIVAS, PSICOLÓGICAS E IDENTITÁRIAS DA MARGINALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL EFETIVO**
Durante décadas, a contabilidade pública brasileira foi reduzida à execução orçamentária. Enquanto isso, a figura do contador público concursado — aquele que deveria ser o guardião da técnica, da legalidade e da memória institucional — foi gradualmente empurrada para uma posição de invisibilidade.
Esse capítulo revela o que a literatura técnica normalmente não mostra: os efeitos humanos, psicológicos, emocionais e cognitivos dessa marginalização.
1. O Nascimento do Contador Invisível
Imagine a cena: Um servidor concursado, formado, dedicado, chega todos os dias às 7h da manhã para trabalhar na Secretaria de Finanças. Na porta ao lado, uma empresa terceirizada, contratada “para dar suporte”, assume na prática todas as funções estratégicas.
É ela que define:
como lançar despesas;
como registrar o patrimônio;
como ajustar inconsistências;
o que “pode” ou “não pode” ser contabilizado;
como interpretar normas;
como preparar o balanço;
como responder ao Tribunal de Contas.
O contador concursado, que deveria liderar essas funções, se vê relegado a tarefas operacionais:
conferir notas,
escanear documentos,
“passar informações” para a empresa,
receber cobranças que não decidiu,
cumprir rotinas que não planejou,
servir de intermediário entre o setor e a terceirizada.
E assim nasce o contador invisível — presente, mas ignorado; responsável, mas não atuante; concursado, mas desautorizado.
2. A Dor Silenciosa da Desautorização Técnica
A marginalização do contador efetivo não se manifesta de forma explícita. Ela acontece nos detalhes, nas entrelinhas, nos gestos cotidianos.
Ela aparece quando:
pedidos chegam diretamente à empresa, e não ao setor;
decisões são tomadas sem consulta ao chefe efetivo;
a empresa terceirizada corrige lançamentos que o servidor fez;
notas técnicas são explicadas ao gestor pela empresa, não pelo servidor;
a gestão prefere sugestões da terceirizada, ignorando a equipe interna;
o servidor é tratado como auxiliar, e não como contador.
Esse processo de desautorização técnica causa:
frustração,
perda de autoestima,
apagamento da identidade profissional,
ansiedade,
sensação de inutilidade,
medo de errar,
vergonha de participar de decisões,
retração intelectual.
É uma erosão lenta, mas devastadora.
3. O Efeito Cognitivo: A Perda da Essência da Ciência Contábil
Ao longo dos anos, muitos contadores concursados passaram a acreditar que “contabilidade pública é só orçamento”. Não por ignorância — mas por sobrevivência emocional.
Quando o profissional:
não é valorizado,
não é ouvido,
não é consultado,
não é treinado,
não participa de decisões estratégicas,
não é incentivado a aplicar regime de competência,
não é estimulado a controlar patrimônio,
não vê utilidade em custos,
não recebe respaldo para mudar práticas,
ele começa a reduzir sua própria ciência para caber dentro do espaço que lhe foi permitido.
Esse fenômeno é conhecido na psicologia organizacional como:
📌 desengajamento cognitivo adaptativo.
O profissional passa a limitar o próprio pensamento para evitar o conflito permanente entre:
o que sabe que é certo, e
o que é permitido fazer.
É como se a contabilidade moderna estivesse “lá fora”, mas ele estivesse preso em uma sala onde só se fala de empenho, liquidação e ordens de pagamento.
4. A Erosão da Identidade Profissional
A identidade de um contador público deveria ser construída sobre:
técnica,
ética,
responsabilidade fiscal,
controle patrimonial,
governança,
racionalidade,
conhecimento profundo das normas,
centralidade na gestão pública.
Mas em muitos municípios, sua identidade é reconstruída de forma equivocada:
“contador é para fazer empenho”
“patrimônio é só plaqueta”
“inventário é perda de tempo”
“depreciação ninguém cobra”
“custos não servem para nada”
“balanço é só para não dar multa”
Com o tempo, o contador começa a acreditar nisso. E esse é o maior dano psicológico: o profissional passa a aceitar uma caricatura inferior de si mesmo.
5. O Adoecimento Emocional Invisível
Pesquisas em psicologia do trabalho apontam que ambientes de desvalorização técnica produzem:
ansiedade crônica;
sensação de incompetência;
fadiga emocional;
desmotivação profunda;
retraimento social;
perda de sentido no trabalho;
sintomas depressivos;
cinismo institucional;
“apatia contábil”.
Essa apatia contábil é o estado no qual o contador:
deixa de propor melhorias;
evita discussões técnicas;
aceita decisões equivocadas;
apenas cumpre ordens;
não se reconhece mais como técnico;
sobrevive, mas não atua.
É o adoecimento silencioso de uma categoria inteira.
6. A Humilhação Institucional Velada
Muitos contadores efetivos relatam uma humilhação silenciosa:
serem ignorados em reuniões;
terem suas análises desconsideradas;
receberem ordens indiretas de pessoas sem concurso;
serem corrigidos pela empresa terceirizada;
serem avaliados não pela técnica, mas pela “capacidade de obedecer”;
não terem acesso a capacitação;
não participarem de decisões que deveriam liderar.
É uma humilhação que não nasce de ofensas diretas, mas de deslocamento institucional.
7. A Perda da Memória Institucional: o Estado Começa a Esquecer de Si Mesmo
Quando o contador efetivo é marginalizado, não apenas ele sofre — o Estado sofre também. Ele perde:
sua memória contábil,
sua consistência histórica,
sua coerência patrimonial,
sua capacidade de planejar,
sua autonomia técnica,
seu conhecimento acumulado.
O Estado que terceiriza tudo se transforma em um Estado que não sabe nada de si mesmo.
8. A Consequência Social: Quando o Profissional Adoece, o Serviço Público Piora
Um contador invisível representa:
balanços frágeis,
patrimônio descontrolado,
decisões pouco fundamentadas,
erros técnicos repetidos,
custos inexistentes,
riscos fiscais ocultos,
dependência de empresas externas,
perda de credibilidade institucional.
A invisibilização do profissional não é um problema individual — é um problema público, político, social.
9. A Urgência do Resgate Profissional
É necessário reconstruir a dignidade do contador público. Esse resgate passa por:
concursos estruturados,
carreira valorizada,
capacitação permanente,
autonomia técnica,
participação nas decisões,
liderança na implantação do SIAFIC,
protagonismo nos custos,
centralidade no patrimônio,
respeito institucional.
O contador público não é “um setor da prefeitura”. Ele é o coração técnico do Estado.
Quando ele é valorizado, o Estado floresce. Quando ele é ignorado, o Estado adoece.
CAPÍTULO 44 — O CONTROLE INTERNO FRAGMENTADO:
QUANDO A MÁQUINA ADMINISTRATIVA NÃO CONSEGUE ENXERGAR A SI MESMA**
O controle interno sempre deveria ser o “sistema nervoso” da administração pública — capaz de identificar riscos, antecipar falhas, orientar gestores e garantir integridade. No Brasil contemporâneo, porém, ele frequentemente se encontra fragmentado, fragilizado e, muitas vezes, reduzido a um papel simbólico.
Nos municípios, o controle interno deveria ser a ponte entre a contabilidade e a governança. Mas na prática, ele é frequentemente:
subdimensionado,
desautorizado,
isolado,
ignorado,
pouco compreendido,
e, por vezes, sufocado por interesses políticos imediatos.
Esse capítulo revela como essa fragilidade afeta diretamente a contabilidade pública, os contadores efetivos e a própria capacidade de o Estado funcionar racionalmente.
1. Um sistema nervoso desconectado
Imagine um organismo cujo cérebro não recebe informações precisas dos órgãos e membros. Ele tropeça, se desequilibra, repete erros, age por reflexos instintivos e não por racionalidade. Assim operam muitos municípios brasileiros.
O controle interno deveria receber dados de:
patrimônio,
contratos,
finanças,
obras,
almoxarifado,
folha,
sistema SIAFIC,
planejamento,
custos.
Mas a realidade mostra que:
setores não conversam;
secretarias escondem informações;
processos não são documentados;
o contador não é ouvido;
o patrimônio é negligenciado;
obras não têm registros completos;
contratos são mal acompanhados;
documentos chegam atrasados;
decisões são tomadas sem análise técnica.
O resultado: um controle interno que tenta enxergar, mas recebe sombras.
2. A solidão institucional do controlador interno
Assim como o contador concursado sofre marginalização, o controlador interno vive uma solidão institucional profunda.
Ele é cobrado para:
apontar erros,
fiscalizar atos,
prevenir irregularidades,
exigir documentação,
recomendar melhorias.
Mas é frequentemente:
ignorado,
visto como “trava”,
tratado como inimigo,
isolado das decisões,
impedido de acessar informações,
pressionado a “não criar problema”.
Essa solidão produz desgaste psicológico semelhante ao do contador invisível. Ambos tentam aplicar técnica — mas enfrentam cultura.
3. O efeito dominó da desorganização
Quando o controle interno é fraco, tudo se torna frágil:
o patrimônio não fecha,
o almoxarifado perde rastreabilidade,
as obras acumulam inconsistências,
custos não podem ser implantados,
o SIAFIC opera abaixo do potencial,
o contador fica sobrecarregado,
o Tribunal de Contas faz apontamentos repetidos,
gestores tomam decisões mal informadas,
o risco fiscal aumenta,
a governança não se consolida.
A falta de controle interno não é um problema de um setor — é um problema de toda a administração.
4. A cultura da aversão ao registro
O maior desafio contemporâneo do controle interno é cultural: a administração pública brasileira ainda resiste a registrar sua própria realidade.
Porque registrar:
cria rastreabilidade;
cria responsabilidade;
cria limites;
cria memória;
cria transparência;
cria controle.
E tudo o que cria controle é visto por setores patrimonialistas como ameaça.
Por isso tantos servidores resistem ao SIAFIC, ao inventário, ao módulo de obras, ao almoxarifado organizado, aos relatórios de custos, às conciliações patrimoniais.
Não é falta de capacidade técnica. É falta de cultura institucional.
5. O impacto direto na contabilidade pública
Quando o controle interno falha, o contador sofre.
Ele perde:
informações tempestivas;
dados confiáveis;
documentos essenciais;
lógica dos processos;
contexto das decisões;
respaldo institucional;
coesão com outros setores.
O contador fica “apagando incêndios” em vez de planejar soluções. Fica reativo, não estratégico.
O resultado é devastador:
erros acumulados,
inconsistências no balanço,
fragilidade nos demonstrativos,
dificuldade para aplicar competência,
falta de integração patrimonial,
atrasos nos fechamentos,
inconsistências no SIAFIC,
falta de credibilidade técnica.
O Estado inteiro fica vulnerável.
6. O paradoxo da era moderna
O Brasil possui:
normas de alto nível;
SIAFIC avançado;
auditoria eletrônica;
NBCTSP modernas;
MCASP consolidado;
tribunais de contas atuantes;
um corpo técnico qualificado.
Mas ainda opera com:
controle interno enfraquecido,
processos mal documentados,
setores que “não conversam”,
medo de registrar,
resistência à técnica.
É o paradoxo da era contemporânea: temos o cérebro de um Estado do século XXI, mas reflexos de um Estado do século XX.
7. O controle interno como chave para o futuro
A solução para o paradoxo está aqui. Não no sistema. Não na empresa terceirizada. Não no organograma.
Mas no controle interno robusto, capaz de:
coordenar setores,
garantir fluxos lógicos,
validar informações,
capacitar equipes,
proteger contadores,
orientar gestores,
antecipar problemas,
fortalecer governança,
consolidar cultura técnica.
Sem isso, toda modernização será superficial.
📘 PARTE VI — O ESTADO QUE PRECISA NASCER
(CAPÍTULO 45)
**CAPÍTULO 45 — O ESTADO QUE EMERGE DA CRISE:
O BRASIL ENTRE O PASSADO QUE PESA E O FUTURO QUE CHAMA**
Ao longo das últimas décadas, o Brasil caminhou entre dois mundos: de um lado, o Estado improvisado que herdamos — fragmentado, desarticulado, burocrático, patrimonialista, dominado por práticas que se repetem desde o século XIX; do outro lado, o Estado que queremos — moderno, racional, transparente, governado por evidências, profissionalizado, capaz de conhecer a si mesmo.
A crise da contabilidade pública, detalhada nas partes anteriores, não foi apenas uma crise técnica. Ela foi — e ainda é — uma crise civilizatória.
Um Estado que não conhece seu patrimônio, que não valoriza seus contadores, que não respeita seus servidores técnicos, que marginaliza o conhecimento e terceiriza a razão administrativa, é um Estado que ainda não nasceu plenamente.
Este capítulo — e toda esta parte — busca entender que Estado precisa emergir a partir dessa crise.
1. O Estado que herdamos: um Estado sem espelho
Durante boa parte da história brasileira, vivemos em um Estado que:
não sabia o que possuía;
não sabia quanto valiam seus bens;
não sabia controlar sua própria estrutura;
não documentava seus processos;
não integrava suas informações;
tratava tecnicidade como burocracia;
preferia improviso à racionalidade;
confundia orçamento com gestão;
e confundia gestão com política.
Esse Estado, fragilizado, foi incapaz de acompanhar:
a complexidade do país;
a velocidade da tecnologia;
a pluralidade das políticas públicas;
a exigência por transparência.
É esse Estado que precisa ser superado.
2. O Estado que começou a nascer com a Nova Contabilidade Pública
A convergência às normas internacionais, a implantação do regime de competência, o fortalecimento dos tribunais, a exigência de patrimônio e custos — tudo isso deu os primeiros sinais de reconstrução institucional.
Pela primeira vez, o Brasil colocou no centro da administração pública ideias como:
valor público,
transparência ativa,
planejamento integrado,
controle patrimonial,
integração de sistemas,
auditoria eletrônica,
sustentabilidade fiscal e econômica,
profissionalização das carreiras técnicas,
evidências para governar,
responsabilidade intergeracional.
Mas isso é apenas o início. É a estrutura — não o edifício.
3. O Estado que ainda não nasceu: o Estado da razão pública
O Estado que o Brasil precisa construir — e que seu livro ajuda a conceituar — é o Estado que entende que:
📌 Sem contabilidade patrimonial, não há verdade administrativa. 📌 Sem custos, não há eficiência. 📌 Sem memória institucional, não há continuidade. 📌 Sem servidores valorizados, não há governança. 📌 Sem controle interno forte, não há integridade. 📌 Sem integração, não há racionalidade. 📌 Sem cultura técnica, não há modernização.
Esse “novo Estado” não nasce de leis — nasce de mentalidades.
Ele exige:
respeito ao conhecimento,
valorização dos servidores de carreira,
liderança técnica,
planejamento de longo prazo,
autonomia profissional,
sistemas como ferramentas e não muletas,
cultura de registro,
cultura de evidências,
cultura de prestação de contas real,
cultura de que o patrimônio é sagrado,
cultura de continuidade administrativa.
É o contrário do Estado improvisado que temos combatido ao longo de todo o livro.
4. O papel central dos profissionais invisibilizados
O novo Estado só pode surgir se ele resgatar os profissionais que hoje estão escondidos nos bastidores:
contadores públicos,
controladores internos,
analistas de orçamento,
técnicos administrativos,
analistas de sistemas,
equipes de planejamento,
servidores que conhecem a máquina por dentro.
Eles são o núcleo vital da administração moderna. São os guardiões da lógica, da técnica, da integridade institucional.
Sem eles:
o SIAFIC é apenas software,
o MCASP é apenas manual,
a NBCTSP é apenas texto,
o inventário é apenas lista,
o controle interno é apenas rito,
a auditoria é apenas apontamento,
a transparência é apenas site.
O Estado do futuro nasce deles. Com eles. E para eles — e para a sociedade que depende de sua atuação silenciosa.
5. O risco de não nascer: o retorno ao patrimonialismo
Se essa nova mentalidade não se consolidar, o Estado corre um grande risco:
📌 voltar ao improviso, 📌 retroceder à fragmentação, 📌 reativar a dependência de empresas, 📌 esvaziar carreiras técnicas, 📌 enfraquecer o controle interno, 📌 desvalorizar o patrimônio público, 📌 perder governança, 📌 e repetir erros que já custaram décadas.
A História mostra que Estados que não se reinventam são engolidos pelo passado.
6. O Estado que precisa nascer está na fronteira entre técnica e sensibilidade
O Estado que vislumbramos aqui não é apenas racional, mecanicista ou tecnocrático. Ele é humano, ético e republicano.
Ele nasce quando:
o contador é ouvido,
o controlador é respeitado,
o servidor público é valorizado,
a política compreende seus limites,
a técnica orienta a ação,
a cultura institucional muda,
a sociedade cobra,
a gestão se profissionaliza,
o patrimônio é cuidado,
o futuro é planejado.
Esse é o Estado que o Brasil merece — e que as próximas gerações exigirão.
CAPÍTULO 46 — GOVERNANÇA E EVIDÊNCIAS:
O CÉREBRO DO ESTADO QUE QUER SER INTELIGENTE**
Se no passado a administração pública brasileira foi dominada por improvisos, práticas fragmentadas e instintos políticos, o Estado que precisamos construir exige outra coisa: inteligência institucional. Não a inteligência individual — mas o pensamento coletivo, capaz de gerar decisões coerentes, previsíveis, estruturadas e fundamentadas.
Governança e evidências são os pilares dessa inteligência.
1. A Governança como bússola do futuro
A governança pública é a capacidade de um Estado:
formular estratégias,
articular seus setores,
coordenar ações,
monitorar riscos,
avaliar resultados,
prestar contas,
e transformar aprendizado em política pública.
É uma lógica de funcionamento baseada em:
coerência,
responsabilidade,
transparência,
integridade,
monitoramento,
participação,
racionalidade.
Em muitos municípios, a governança ainda é vista como:
“enfeite”,
“moda”,
“coisa de auditor”,
“exigência do TCU”.
Mas na verdade, ela é a arquitetura interna do Estado. Sem governança, tudo vira improviso. Com governança, tudo ganha direção.
2. O Estado que decide com evidências
Um Estado que decide com evidências é um Estado que:
coleta dados;
analisa indicadores;
usa a contabilidade patrimonial;
calcula custos;
mede desempenho;
projeta cenários;
avalia impacto;
planeja com racionalidade.
É um Estado que não governa por intuição, mas por conhecimento. Não decide por hábito, mas por análise. Não improvisa, mas planeja.
Esse é o maior salto civilizatório que o Brasil precisa dar.
3. A contabilidade patrimonial como fonte de verdade administrativa
Sem contabilidade patrimonial:
não há diagnóstico real;
não há risco calculado;
não há transparência sólida;
não há balanços fidedignos;
não há custos;
não há informação histórica;
não há projeção confiável.
A contabilidade patrimonial é o espelho do Estado, e sem espelho nenhum ser humano e nenhum governo pode se conhecer — e muito menos se planejar.
É ela que revela:
onde o Estado perde dinheiro,
onde degrada patrimônio,
onde há desperdício,
onde a política pública não alcança o esperado,
o que precisa ser reposto,
quanto custa manter a máquina,
onde há risco fiscal,
onde há risco jurídico,
como o patrimônio se transforma no tempo.
Sem essa verdade, a governança é cega.
4. Custos como instrumento de racionalidade administrativa
O Brasil sempre governou com orçamento. Mas orçamento diz apenas o que foi gasto.
Custos dizem:
quanto custa prestar serviço,
quais setores são ineficientes,
onde estão as oportunidades de melhoria,
quais programas consomem mais recursos do que entregam.
Custos são a coluna vertebral da eficiência. Sem eles, o Estado é guiado por percepções — não por análises.
E um Estado governado por percepções está condenado a:
desperdiçar recursos,
repetir erros,
sobrecarregar setores,
planejar mal,
priorizar errado,
investir sem critérios.
O Estado que precisa nascer exige custos como prática cotidiana.
5. Controle interno como inteligência preventiva
O controle interno não é polícia. Não é inimigo. Não é carimbo.
Ele é o sistema imunológico da administração pública: capaz de detectar anomalias antes que se tornem doenças graves.
Quando forte, o controle interno:
previne riscos;
orienta gestores;
reduz erros;
fortalece integridade;
aumenta transparência;
protege o patrimônio;
dá segurança jurídica;
profissionaliza decisões.
Quando fraco, o Estado vira paciente crônico — sempre tratando problemas que poderiam ter sido evitados.
6. Evidências como antídoto contra o patrimonialismo
O patrimonialismo sobrevive no improviso, no “achismo”, na decisão intuitiva, na lógica pessoal.
Evidências anulam isso.
Onde há dados sólidos:
não cabe favoritismo;
não cabe improviso;
não cabe manipulação;
não cabe jeitinho;
não cabe “política de ocasião”.
Evidências tornam a administração:
mais republicana,
mais justa,
mais técnica,
mais sustentável.
A evidência é a grande inimiga da arbitrariedade.
7. A exigência ética da inteligência institucional
Governar sem evidências é ato antiético. É negar ao cidadão:
o direito ao bom uso do dinheiro público,
o direito a serviços de qualidade,
o direito à transparência,
o direito à eficiência,
o direito à verdade administrativa.
No Estado que precisa nascer, a governança não é um luxo; é um dever moral.
8. A responsabilidade da nova geração de contadores e gestores
Os profissionais que hoje entram na administração pública não são apenas técnicos — são agentes de transformação institucional.
Eles carregam:
a ciência da contabilidade;
a linguagem dos sistemas;
a lógica da governança;
a ética do patrimônio;
a cultura dos dados;
a mentalidade da transparência.
O Estado que precisa nascer será construído pelas mãos deles. E pela coragem deles de romper com décadas de improviso.
CAPÍTULO 47 — O SERVIDOR PÚBLICO COMO GUARDIÃO DA REPÚBLICA:
O PAPEL SILENCIOSO QUE CONSTRÓI O ESTADO**
Em uma República verdadeira, o servidor público não é apenas executor de tarefas. Ele é o guardião das instituições, o mediador entre o poder político e o interesse coletivo, o protetor da legalidade e do patrimônio público. Mas, no Brasil, essa verdade muitas vezes é esquecida — ou deliberadamente apagada.
Este capítulo reconstrói o papel do servidor público — especialmente o técnico, concursado, muitas vezes invisibilizado — como ator essencial na construção do Estado que o país precisa.
1. A função republicana do servidor: mais do que um cargo, uma missão
Servidores públicos concursados não são escolhidos por afinidade política, nem por conveniência administrativa. Eles existem para garantir:
continuidade das políticas públicas,
proteção do erário,
preservação do patrimônio,
integridade das decisões,
neutralidade técnica,
profissionalização da máquina.
O servidor é a memória viva do Estado. E a memória é o que impede a República de ser destruída a cada mudança de governo.
Sem servidor técnico, o Estado se torna:
volátil,
frágil,
personalista,
dependente de interesses privados,
fácil de manipular.
Com servidor forte, o Estado se torna:
estável,
confiável,
institucional,
republicano.
2. O contador público como guardião da verdade administrativa
Se o servidor é guardião da República, o contador é guardião da verdade administrativa.
Contadores públicos preservam:
a integridade dos números,
a lógica patrimonial,
a realidade financeira,
a coerência do orçamento,
a história dos ativos e passivos,
o sentido das políticas públicas.
Eles carregam uma responsabilidade silenciosa, porém imensa:
📌 dizer ao gestor não o que ele quer ouvir, mas o que a realidade exige.
E isso poucas carreiras no setor público conseguem fazer.
3. O controlador interno como guardião da integridade
Se o contador protege a verdade administrativa, o controlador protege a integridade das ações.
O papel do controle interno é mais profundo do que muitos imaginam:
ele garante que as políticas sejam cumpridas;
ele identifica riscos antes do desastre;
ele orienta gestores;
ele protege o Estado de si mesmo;
ele antecipa erros;
ele neutraliza práticas patrimonialistas;
ele impede abusos;
ele é a consciência institucional da administração.
Quando forte, o controle interno é a “segunda linha de defesa” mais poderosa que a República possui.
4. A coragem técnica: a virtude esquecida no serviço público
Ser servidor público exige coragem. Mas não a coragem dramática e heroica — e sim a coragem silenciosa, quase invisível, de:
dizer “não” quando todos dizem “sim”;
defender a legalidade quando a política pressiona;
proteger documentos que muitos gostariam de apagar;
manter registros que alguns desejariam alterar;
recusar atalhos;
exigir documentos;
seguir princípios quando seria mais fácil ignorá-los.
É a coragem técnica — a coragem do contador, do controlador, do auditor, do analista, do gestor público de carreira.
É uma coragem que raramente vira manchete. Mas é essa coragem que sustenta a República no dia a dia.
5. O servidor como resistência institucional ao patrimonialismo
O patrimonialismo — essa velha sombra brasileira — se alimenta de:
improviso,
ausência de registro,
decisões pessoais,
fragilidade técnica,
dependência de terceiros.
O servidor público técnico é o principal antídoto contra isso.
Ele resiste ao patrimonialismo quando:
exige formalidade,
registra tudo,
cumpre normas,
preserva documentos,
organiza patrimônio,
controla almoxarifado,
recusa lançamentos inconsistentes,
orienta gestores sobre riscos,
mantém coerência administrativa.
Esse trabalho muitas vezes é feito em silêncio — mas é ele que protege o Estado das tentações de captura.
6. O sofrimento silencioso desses guardiões
O Capítulo 43 mostrou com profundidade que esses guardiões sofrem:
invisibilidade,
desvalorização,
isolamento intelectual,
pressão política,
desgaste emocional,
perda de identidade profissional.
Mas ainda assim estão lá. Todos os dias. Assumindo a responsabilidade que muitas vezes a gestão não reconhece.
E esse sofrimento representa algo maior: a tensão entre o Estado que existe e o Estado que precisa nascer.
7. A nova geração e o despertar institucional
Há, porém, uma boa notícia — e ela precisa ser registrada neste capítulo.
Uma nova geração de servidores está surgindo:
mais técnica,
mais conectada,
mais bem formada,
menos tolerante ao improviso,
mais consciente do papel da contabilidade,
mais preparada para governança,
mais comprometida com evidências.
Essa nova geração não quer ser invisível. Ela quer ser protagonista.
E é essa geração que será a base do Estado que precisa nascer.
8. O servidor público como líder do futuro — não espectador
No futuro que o Brasil precisa construir:
o servidor não deve obedecer, deve orientar;
não deve ser coadjuvante, deve liderar;
não deve ser sombra, deve ser referência;
não deve ser invisível, deve ser protagonista.
Porque o Estado que nasce pela técnica não se sustenta sem servidores de carreira.
A administração moderna depende deles. A governança depende deles. Os dados dependem deles. Os controles dependem deles. O patrimônio depende deles. A sociedade depende deles.
Eles são — e sempre foram — os guardiões silenciosos da República.
CAPÍTULO 48 — O DESAFIO DA CULTURA ADMINISTRATIVA:
COMO MUDAR O QUE PARECIA IMUTÁVEL**
A estrutura técnica do Estado pode ser redesenhada. Sistemas podem ser implantados. Leis podem ser atualizadas. Normas podem ser modernizadas.
Mas existe uma dimensão da administração pública brasileira que não muda com decretos nem com softwares: a cultura administrativa.
Este capítulo explora essa dimensão invisível — e poderosíssima — que muitas vezes determina o sucesso ou o fracasso de qualquer reforma.
1. A cultura como força invisível
Toda organização possui duas estruturas:
a estrutura formal (organogramas, leis, normas, sistemas),
e a estrutura informal (hábitos, valores, medos, resistências, rotinas, relações de poder).
Na administração pública brasileira, a estrutura informal frequentemente pesa mais que a formal.
Ela se manifesta em frases como:
“Sempre foi assim.”
“Isso não dá problema.”
“Faz do jeito mais rápido.”
“Depois a empresa resolve.”
“Inventário é só burocracia.”
“Patrimônio ninguém olha.”
“Custo não serve pra nada.”
“Quem manda é fulano.”
Essas frases são sintomas de uma cultura que resiste ao novo — não por maldade, mas por hábito.
E hábito, em organizações públicas, é quase uma lei silenciosa.
2. As raízes da cultura administrativa brasileira
A cultura administrativa brasileira tem raízes profundas:
Patrimonialismo colonial Onde o público era extensão do privado.
Centralização monárquica Que criou estruturas hierárquicas, verticais, obedientes.
Burocracia weberiana incompleta Que institucionalizou ritos, mas não consolidou carreiras técnicas fortes.
Modernização fragmentada dos anos 1990 Que trouxe ideias novas, mas sem continuidade estrutural.
Terceirização descontrolada Que minou a autonomia técnica do Estado.
Desconfiança histórica do conhecimento Que desvalorizou o servidor especializado.
Essa mistura produziu uma cultura paradoxal: moderna nas ferramentas, antiga nos comportamentos.
3. A cultura como sistema de defesa da organização
Organizações públicas possuem mecanismos psicológicos para evitar o desconforto da mudança. Isso é natural.
Mudar processos mexe com:
poder,
status,
rotina,
segurança,
zona de conforto.
E como o setor público tem pouca rotatividade e muita estabilidade, a cultura tende a se sedimentar como areia acumulada ao longo das décadas.
Ela cria anticorpos contra iniciativas novas, como:
SIAFIC,
custos,
governança,
transparência ativa,
inventário anual,
processos integrados,
controle interno forte.
Por isso mudanças técnicas enfrentam resistência emocional.
4. A cultura patrimonialista como obstáculo à racionalidade
A cultura patrimonialista enxerga o Estado como extensão de grupos políticos. Ela valoriza:
relações pessoais,
lealdade política,
improviso,
informalidade,
urgência,
decisões imediatas.
Ela desvaloriza:
planejamento,
integração,
técnica,
controle interno,
autonomia dos servidores,
racionalidade administrativa.
Essa cultura se opõe diretamente à contabilidade patrimonial, que exige:
registro,
formalidade,
precisão,
transparência,
método,
disciplina,
responsabilidade intergeracional.
É por isso que tantas prefeituras resistem à modernização contábil: a contabilidade patrimonial ameaça a cultura patrimonialista.
5. A mudança cultural não é técnica — é humana
Mudar cultura não depende:
de leis,
de sistemas,
de normas,
de organogramas.
Depende de:
pessoas,
comportamentos,
crenças,
líderes,
exemplos,
incentivos,
símbolos.
A cultura muda quando:
servidores acreditam na mudança,
gestores apoiam,
equipes se sentem valorizadas,
o ambiente é seguro para inovar,
erros são tratados como aprendizado,
a técnica é reconhecida como essencial,
a política respeita o limite institucional.
Sem isso, qualquer reforma morre no papel.
6. O papel do contador e do controlador como agentes culturais
Contadores e controladores são mais do que técnicos: são agentes culturais.
Eles mudam cultura quando:
demonstram paciência pedagógica,
explicam o porquê das normas,
traduzem conceitos,
criam rotinas claras,
orientam gestores,
mostram ganhos reais,
evitam linguagem inacessível,
constroem confiança.
A modernização depende deles — não apenas pelo conhecimento técnico, mas pelo papel educativo.
7. Como mudar o que parecia imutável: cinco princípios
1. Pequenas vitórias diárias
Mudar tudo de uma vez não funciona. Mas mudar uma rotina por semana muda o Estado em um ano.
2. Rituais de capacitação contínua
Reuniões, explicações, treinamentos, tutoriais. A cultura muda quando as pessoas aprendem juntas.
3. Valorização dos líderes técnicos
Quando o contador e o controlador são respeitados, a cultura muda.
4. Narrativas institucionais
A administração precisa contar histórias de sucesso, mostrar avanços, celebrar melhorias.
5. Símbolos visíveis de mudança
Inventários, dashboards, sistemas integrados, relatórios de custos. Eles são “provas visuais” de que a mudança chegou.
8. A mudança cultural como o maior desafio — e o maior legado
A cultura administrativa é o último bastião a ser vencido. Mas é ela que definirá se:
o SIAFIC se tornará cérebro ou apenas sistema;
a contabilidade patrimonial será rotina ou exceção;
os custos serão prática ou teoria;
o servidor será protagonista ou invisível;
o Estado será republicano ou patrimonialista.
Mudar cultura é trabalhoso — mas é a única forma de garantir que o Estado que precisa nascer não morra na infância.
📘 PARTE VI — O ESTADO QUE PRECISA NASCER
(CAPÍTULO 49)
**CAPÍTULO 49 — A CONSTRUÇÃO DO ESTADO PROFISSIONAL:
CARREIRAS, FORMAÇÃO E RECONHECIMENTO COMO PILARES DE TRANSFORMAÇÃO**
Nenhuma modernização administrativa se sustenta sem pessoas. Nenhum sistema funciona sem operadores competentes. Nenhuma reforma sobrevive sem profissionais comprometidos. E nenhum Estado se fortalece sem carreiras estruturadas.
A transformação da contabilidade pública brasileira — e da administração pública como um todo — depende diretamente da construção de um Estado profissional, capaz de atrair, formar, reter e valorizar talentos.
Este capítulo aborda as bases dessa construção.
1. Por que o Brasil ainda não tem um Estado plenamente profissional?
Apesar de avanços normativos e tecnológicos, o Estado brasileiro ainda sofre com:
carreiras fragmentadas,
falta de planos de desenvolvimento,
capacitação descontinuada,
servidores desmotivados,
sucessão administrativa frágil,
ambientes tóxicos formados por ingerência política,
ausência de avaliação de desempenho real,
terceirizações que enfraquecem a autonomia do ente público.
Essas fragilidades impedem a consolidação de uma cultura técnica sólida.
O resultado?
O Estado se torna dependente de empresas privadas para fazer aquilo que deveria saber fazer sozinho.
2. A carreira pública como projeto civilizatório
Carreiras públicas não são privilégios — são elementos civilizatórios.
Elas garantem:
continuidade institucional,
neutralidade política,
estabilidade técnica,
memória organizacional,
proteção contra pressões indevidas,
absorção de conhecimento ao longo do tempo,
especialização profunda,
resiliência administrativa.
Um Estado sem carreiras estruturadas é como uma casa sem alicerces: pode até ficar bonita por fora, mas não resiste ao primeiro vendaval.
3. A centralidade da carreira contábil e de controle interno
No Estado que precisa nascer, duas carreiras tornam-se pilares estruturantes:
📌 1. A carreira de Contador Público
Responsável por:
contabilidade patrimonial plena,
demonstrações fidedignas,
implantação de custos,
transparência,
auditoria interna,
suporte ao SIAFIC,
interpretação de normas,
gestão de riscos contábeis.
📌 2. A carreira de Controle Interno
Responsável por:
prevenção de riscos,
integridade institucional,
compliance,
governança,
monitoramento,
metodologias de auditoria,
análise de dados,
racionalização dos processos.
Essas duas carreiras, quando valorizadas, formam o núcleo duro da profissionalização do Estado.
4. Formação contínua: o motor do Estado moderno
O conhecimento hoje dobra a cada 12 a 18 meses. Um servidor público que não se atualiza torna-se, inevitavelmente, ultrapassado.
Por isso, a formação contínua deve ser:
institucionalizada,
incentivada,
protegida,
permanente.
Um Estado moderno precisa oferecer:
trilhas de capacitação,
programas de especialização,
pós-graduações conveniadas,
cursos periódicos internos,
seminários,
grupos de estudo,
laboratórios de inovação,
intercâmbios com universidades.
A formação não é custo; é investimento. Não é despesa; é futuro.
5. O reconhecimento como ferramenta de motivação
O maior inimigo do servidor não é o salário — é a invisibilidade.
Servidores públicos precisam de:
reconhecimento institucional,
autonomia técnica,
voz ativa,
participação em decisões,
ambiente de respeito,
proteção contra ingerência política,
legitimidade perante gestores e sociedade.
Sem reconhecimento, o servidor adoece (como demonstrado no Capítulo 43). Com reconhecimento, ele se transforma em força motriz da mudança.
6. Como construir o Estado profissional na prática?
A construção do Estado profissional passa por oito pilares:
1. Concursos regulares
Para renovar capacidades e evitar dependência externa.
2. Carreiras estruturadas por competências
Com trilhas claras e progressões baseadas em mérito técnico.
3. Capacitação contínua financiada pelo Estado
Como parte da cultura de aprendizagem institucional.
4. Autonomia técnica e respeito às decisões
O servidor técnico deve ter autoridade real.
5. Ambientes sem assédio político ou administrativo
Proteção institucional permanente.
6. Valorização dos servidores experientes
Eles são a memória viva da instituição.
7. Redução da dependência de terceirizados
Empresas devem ser apoio — nunca substitutas do Estado.
8. Cultura de prestação de contas e evidências
Para fortalecer a credibilidade e o accountability.
7. O legado: o servidor como ativo estratégico do Estado
O Estado brasileiro precisa entender que servidores não são:
custo,
problema,
obstáculo,
burocracia.
Servidores são ativos estratégicos, tão importantes quanto:
sistemas,
patrimônio,
planejamento,
orçamento,
tecnologia.
O servidor é o único ativo que:
pensa,
interpreta,
decide,
cria,
preserva,
dá sentido,
garante continuidade.
O Estado que precisa nascer será construído por eles — ou não nascerá.
CAPÍTULO 50 — A GOVERNANÇA DO FUTURO:
SISTEMAS, INTEGRAÇÃO E INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL**
O Estado moderno não é apenas aquele que possui sistemas sofisticados. É aquele que pensa com os sistemas, aprende com os dados, atua com inteligência e toma decisões com base em evidências robustas.
O futuro da administração pública brasileira estará nas mãos dos entes que compreenderem que:
📌 governar não é apenas decidir — é decidir bem, com coerência, método e informação.
1. O salto civilizatório: o Estado que pensa com dados
A maior transformação do século XXI foi a substituição da intuição pela informação.
No passado, prefeituras decidiam:
por experiência,
por memória oral,
por impressões,
por urgências,
por simpatias,
por conveniências.
No futuro, o Estado que precisa nascer tomará decisões com base em:
dashboards,
indicadores intersetoriais,
big data público,
análises preditivas,
custos unitários por serviço,
mapas de riscos,
dados contábeis patrimoniais,
auditoria contínua,
algoritmos de governança.
Esse salto não é tecnológico — é cultural. É uma mudança de mentalidade: da improvisação para a inteligência institucional.
2. O SIAFIC como cérebro ampliado do Estado
O SIAFIC, quando usado em sua plenitude, é mais do que um sistema: é o cérebro da gestão pública.
Ele:
integra informações,
elimina ilhas administrativas,
padroniza rotinas,
cria rastreabilidade,
fortalece controle,
fornece evidências em tempo real.
Mas o SIAFIC do futuro precisa:
conversar com sistemas de saúde e educação;
integrar obras, patrimônio, contratos e almoxarifado;
gerar análises automáticas;
fornecer insights decisórios;
acionar alertas inteligentes;
registrar indicadores de custo;
crosslinkar dados de transparência;
retroalimentar o controle interno.
O sistema não será apenas ferramenta. Será interlocutor.
3. Inteligência Institucional: o Estado que aprende
Um Estado inteligente é aquele que:
detecta erros automaticamente,
aprende com falhas,
corrige processos,
documenta boas práticas,
compartilha conhecimento,
melhora com o tempo.
Isso exige:
controle interno digitalizado;
auditoria contínua;
registro permanente;
fluxo de informações tempestivas;
banco de dados patrimonial robusto;
cultura de análise e reflexão.
É a passagem do Estado burocrático para o Estado cognitivo.
4. Custos e Patrimônio: os dois olhos do novo Estado
No futuro, o Estado que precisa nascer enxergará com dois olhos fundamentais:
1. Custo — o olho da eficiência
Permite saber:
quanto custa cada serviço,
onde há desperdício,
quais setores são ineficientes,
como melhorar processos,
como planejar com racionalidade.
2. Patrimônio — o olho da sustentabilidade
Permite saber:
o que o Estado possui,
quanto vale,
como está sendo usado,
onde deve investir,
onde deve desinvestir,
como preservar ao longo do tempo.
Um Estado sem custos é cego para o presente. Um Estado sem patrimônio é cego para o futuro.
5. Transparência 4.0: o Estado que conversa com a sociedade
A transparência do futuro não é PDF — é diálogo direto com o cidadão.
O Estado moderno apresentará:
dashboards públicos,
análises visuais,
dados abertos inteligentes,
comparativos automáticos,
indicadores sociais integrados,
modelos preditivos acessíveis,
prestação de contas narrativa e educativa.
A sociedade exigirá, cada vez mais:
verdade,
clareza,
dados acessíveis,
explicações compreensíveis.
E a transparência deixará de ser obrigação — e se tornará valor.
6. A governança integrada como arquitetura institucional
Governança do futuro exige arquitetura clara:
contabilidade patrimonial estruturada,
custos informatizados,
planejamento intersetorial,
controle interno forte,
auditoria contínua,
risco monitorado,
dados integrados,
sistemas interoperáveis,
cultura de evidências,
comunicação acessível,
decisões colegiadas.
É o Estado que se organiza como sistema vivo, e não como ilhas desconexas.
7. O risco de uma modernização superficial
Toda modernização corre o risco de ser “de fachada”.
Isso acontece quando:
sistemas são implantados, mas não usados;
normas são publicadas, mas não internalizadas;
relatórios são feitos, mas não analisados;
dashboards existem, mas não orientam decisões;
custos são calculados, mas não aplicados;
dados são divulgados, mas não explicados.
Esse risco é real. E ele só será evitado se o servidor técnico for protagonista — não espectador.
8. O servidor como arquiteto do Estado inteligente
Contadores, controladores, analistas e gestores não são apenas operadores:
Eles são arquitetos do Estado do futuro.
São eles que:
interpretam dados,
constroem processos,
desenham rotinas,
alimentam sistemas,
validam informações,
cuidam do patrimônio,
enxergam riscos,
traduzem números,
protegem a integridade.
O Estado inteligente nasce onde servidores são valorizados.
9. O futuro já começou
A boa notícia é que:
sistemas evoluíram,
normas amadureceram,
conceitos se consolidaram,
servidores se qualificaram,
tecnologias se democratizaram.
O futuro não é utopia. Ele já está presente em prefeituras que:
usam custos para planejar,
integram patrimônio a obras,
fazem inventários anuais,
trabalham com dashboards públicos,
fortalecem controle interno,
valorizam carreiras técnicas.
O Estado que precisa nascer já tem raízes sendo plantadas.
CAPÍTULO 51 — O ESTADO QUE DEIXAREMOS PARA OS PRÓXIMOS 30 ANOS:
ENTRE A RESPONSABILIDADE INTERGERACIONAL E A HERANÇA TÉCNICA**
A grande questão que atravessa toda a história da administração pública brasileira é simples e profunda:
📌 Que Estado estamos construindo para quem ainda não nasceu?
A resposta a essa pergunta define não apenas políticas públicas — define o próprio caráter republicano do país.
Porque governar não é apenas resolver problemas presentes. É, sobretudo, plantar estruturas institucionais que florescerão quando nós já não estivermos aqui.
Este capítulo é um ensaio sobre responsabilidade intergeracional — e sobre o futuro do Brasil pelas lentes da contabilidade pública.
1. O Brasil de hoje é produto das escolhas de ontem
O Estado fragmentado, improvisado e patrimonialista que herdamos é fruto de:
séculos de personalismo;
ausência de planejamento;
desprezo pelo patrimônio;
negligência da contabilidade;
desvalorização dos servidores;
dependência de empresas;
improviso como regra;
política acima da técnica.
Essa herança moldou a máquina pública e produziu:
serviços ineficientes,
indicadores ruins,
custos desperdiçados,
obras incompletas,
patrimônio deteriorado,
dados desconexos,
cultura de urgência permanente.
Não fomos nós que criamos esse Estado — mas somos nós que temos a missão de transformá-lo.
2. O Brasil dos próximos 30 anos depende de decisões que faremos agora
O Estado que deixaremos para as próximas três décadas será produto de escolhas que fazemos hoje:
valorizar ou não valorizar servidores;
consolidar ou não consolidar a contabilidade patrimonial;
profissionalizar ou não profissionalizar a gestão;
implantar ou não custos;
fortalecer ou não o controle interno;
integrar ou não sistemas;
planejar ou não planejar;
orientar-se ou não por evidências;
abandonar ou não o improviso.
Trinta anos é pouco tempo para a história — mas é tempo suficiente para destruir ou reconstruir instituições.
3. O papel dos contadores, controladores e analistas na próxima geração
Os profissionais técnicos — tantas vezes invisibilizados — serão, paradoxalmente, os protagonistas das próximas décadas.
Eles definirão:
se o SIAFIC será subutilizado ou transformador;
se o patrimônio será abandonado ou protegido;
se custos serão cálculo ou governo baseado em evidências;
se controladores terão voz ou serão ignorados;
se a transparência será superficial ou profunda.
A nova geração de servidores terá a responsabilidade de:
ensinar a gestão,
educar políticos,
conduzir a técnica,
criar cultura,
proteger o Estado,
estruturar o futuro.
Não será tarefa fácil. Mas será tarefa possível — e necessária.
4. Os riscos que ameaçam o Estado dos próximos 30 anos
Se não houver mudança estrutural, o Brasil corre o risco de:
1. Regressar ao patrimonialismo disfarçado
Com dependências políticas e técnicas perigosas.
2. Permitir que empresas substituam o Estado
Gerando captura institucional.
3. Abandonar custos e planejamento
Voltando ao improviso administrativo.
4. Perpetuar a invisibilidade dos servidores técnicos
Minando a continuidade institucional.
5. Deixar o patrimônio público deteriorar
Comprometendo gerações futuras.
6. Tornar a contabilidade patrimonial mero simulacro
Sem efeito real sobre a administração.
7. Manter o controle interno enfraquecido
Violando a integridade do Estado.
A História já mostrou que descuidos institucionais podem custar gerações.
5. As oportunidades que nos chamam
Se avançarmos de forma coerente, o Brasil pode construir nos próximos 30 anos um Estado:
1. Profissionalizado
Com carreiras estruturadas e servidores valorizados.
2. Inteligente
Baseado em dados, evidências e análise.
3. Integrado
Com sistemas falando entre si e produzindo ação coordenada.
4. Transparente
Com dashboards acessíveis e dados úteis ao cidadão.
5. Sustentável
Com patrimônio preservado e continuidade administrativa.
6. Técnico
Onde a ciência contábil e de controle interno orienta decisões.
7. Republicano
Onde o interesse público supera interesses particulares.
Esse Brasil não é utopia. É projeto — e depende do que fizermos agora.
6. A responsabilidade intergeracional como fundamento da nova contabilidade
A nova contabilidade pública — patrimonial, integrada, analítica, moderna — é a linguagem que permitirá ao Estado brasileiro:
planejar para além dos ciclos eleitorais,
preservar recursos para gerações futuras,
registrar a história patrimonial do país,
evitar desperdícios intergeracionais,
governar pensando no futuro.
Essa perspectiva é essencial. Porque a pergunta central é:
📌 O que queremos deixar para quem virá depois de nós?
7. O dever moral de reconstruir o Estado
Se a geração atual falhar, as próximas pagarão o preço. Se a geração atual acertar, as próximas colherão os frutos.
É por isso que há um dever moral em:
formar servidores,
valorizar carreiras,
respeitar a técnica,
abandonar improvisos,
registrar corretamente,
implantar custos,
fortalecer controladoria,
integrar sistemas,
planejar com racionalidade.
Este é o compromisso ético com o futuro da República.
8. O legado que podemos deixar
Se fizermos o que precisa ser feito, deixaremos um Estado:
mais humano,
mais transparente,
mais competente,
mais íntegro,
mais racional,
mais profissional,
mais sustentável,
mais confiável.
Este será o maior legado das próximas décadas:
📌 um Brasil que finalmente se reconhece, se organiza e se respeita.
CAPÍTULO 52 — EPÍLOGO:
A RECONSTRUÇÃO SILENCIOSA DA REPÚBLICA**
Ao longo das páginas deste livro, percorremos séculos, enfrentamos ruínas, revisitamos crises, compreendemos erros, iluminamos estruturas, desvelamos dores e projetamos esperanças. E ao chegar aqui, ao fim da jornada, uma verdade se torna incontornável:
📌 O Estado brasileiro ainda está sendo construído — e sua construção é silenciosa.
Ela não acontece em palanques, nem em manchetes, nem nas salas de autoridades. Ela acontece nos bastidores, nos setores administrativos, nos corredores estreitos das secretarias, no esforço diário de profissionais invisíveis, no cuidado com papéis, registros, conciliações, processos e patrimônio.
A reconstrução da República nasce onde poucos veem, mas onde tudo importa.
1. O Estado que nasce todos os dias
O Estado não é uma entidade abstrata. Ele nasce todos os dias nas mãos de pessoas que:
organizam documentos,
registram informações,
concilham contas,
fiscalizam processos,
planejam projetos,
interpretam normas,
cuidam do patrimônio,
constroem rotinas,
fazem perguntas difíceis,
dizem “não” quando o certo exige,
mantêm a coluna vertebral invisível da administração.
É um trabalho que não aparece — e exatamente por isso é essencial.
2. A força dos que não desistem da técnica
A técnica, no setor público, não é apenas um conjunto de procedimentos.
Ela é:
resistência,
coerência,
memória,
ética,
compromisso,
responsabilidade,
coragem.
A técnica é o escudo que protege o Estado contra improvisos, personalismos e arbitrariedades.
Ao longo deste livro, mostramos que a história da contabilidade pública não é apenas história de números — é história de pessoas que lutam para que os números tenham sentido.
E essa luta continua.
3. O papel dos invisíveis
O contador efetivo que chega cedo e sai tarde. O controlador que insiste na conformidade. O analista que organiza dados com cuidado. O gestor técnico que tenta convencer. O planejador que tenta integrar. O servidor que lê normas por conta própria. O profissional que aprende sozinho o sistema. A equipe que insiste, explica, repete.
Esse exército silencioso é a verdadeira fundação do Estado moderno.
A República não é construída pelos que aparecem — é sustentada pelos que permanecem.
4. O futuro não nasce com discursos — nasce com registros
Registros são atos civilizatórios.
Quando um servidor:
registra um bem,
concilia um saldo,
corrige um lançamento,
esclarece uma inconsistência,
completa um inventário,
implementa custos,
organiza um processo,
documenta uma decisão,
ele está realizando um ato de amor à República.
Sim: amor.
Porque amor também é a obstinação de construir o que ninguém vê, mas todos precisam.
5. A coragem de romper o ciclo do improviso
O ciclo histórico do improviso — que por séculos marcou o Brasil — só se rompe quando alguém decide não improvisar.
Quando alguém decide:
seguir a norma,
aplicar o regime de competência,
estruturar o patrimônio,
fortalecer o controle interno,
insistir em custos,
exigir documentação,
planejar com seriedade.
Essa decisão, repetida milhares de vezes, cria um novo ciclo — o ciclo da racionalidade.
E é isso que permitirá ao Brasil nascer como Estado moderno.
6. O Estado que deixaremos como legado
Este livro termina, mas a história que ele narra continua.
O Estado que deixaremos depende do que fazemos hoje:
se valorizamos servidores,
se protegemos o patrimônio,
se implantamos custos,
se fortalecemos o controle interno,
se resistimos ao patrimonialismo,
se integramos sistemas,
se aprendemos com dados,
se trabalhamos com evidências,
se honramos a técnica,
se ensinamos a próxima geração.
Cada gesto conta.
Cada rotina importa.
Cada servidor é uma semente.
7. O que este livro pede ao leitor
Ao fechar estas páginas, deixamos um pedido — não um pedido técnico, mas humano:
📌 não desista da técnica, não desista do patrimônio, não desista da contabilidade, não desista do controle interno, não desista da República.
Porque a República, como toda construção grandiosa, é feita de pequenos atos de grandeza.
8. A reconstrução silenciosa continuará
Quando o servidor conciliar uma conta, ali estará a República. Quando o contador registrar um bem com precisão, ali estará a República. Quando o controlador identificar um risco, ali estará a República. Quando o gestor ouvir a técnica, ali estará a República. Quando o sistema gerar inteligência, ali estará a República. Quando o patrimônio for preservado, ali estará a República. Quando o Estado aprender com seus erros, ali estará a República.
A reconstrução vai continuar. E continuará pelas mãos daqueles que silenciosamente constroem o que o país ainda não vê — mas um dia reconhecerá.